Por Herasmo Braga de Oliveira Brito
A poetisa Adélia Prado costuma ser indagada se o discurso religioso é literário, e ela não só confirma como enfatiza: “Como não pode ser literário? Se não fosse, não existiria mais!” Com essa singela resposta, Adélia não apenas enaltece a linguagem literária mas, sobretudo, a linguagem simbólica. Em momento distinto, outro poeta, Octavio Paz, na sua obra O arco e a lira, nos diz que primeiro existiu a poesia e depois a linguagem. Apoiando-nos somente nestes dois poetas, com essas pequenas e significativas afirmações, podemos chegar à considerável ideia de que o uso potencial da linguagem se faz presente não no que ela diz, mas naquilo que sugere.
No meio literário, é comum afirmar que toda obra que diz ou reflete a realidade não nos serve. Esse pensamento remonta à época platônica, quando na sua A República (381 a.C.) Platão nos diz, especialmente no livro X, que todo poeta deve ser banido da república, pois, para ele, todo construtor de discurso mimético estaria deturpando a verdade e, portanto, criando mentiras. É em Aristóteles que a força da mimese ganha sentido porque, de maneira reflexiva, na Poética, o discípulo de Platão afirma que o discurso ficcional, simbólico, mimético não tem compromisso com a verdade no âmbito real, ele produz a verdade dentro de um universo próprio e verossímil. Assim, a linguagem simbólica realiza, através do diálogo entre o mundo verossímil e a realidade concreta, uma significativa ampliação e conhecimento dos mundos através da refração. Destarte, diante dos mundos conectados e no uso da linguagem mimética, poética, ficcional, simbólica, é que passaríamos a conhecer os mundos subjetivo, objetivo e imaginário, nossos e dos outros, através das constantes diferenças, contradições, paradoxos.
Não é à toa que Platão, ao realizar as suas produções por escrito, dará vez aos diálogos e à linguagem simbólica. Ele não quis receitar, ou direcionar, mas nos elevar, pelo pensamento, às constantes significações e ressignificações que os textos filosóficos nos levam a refletir. Nesta junção do diálogo, que nos oferece dinâmica e perspectivas dos outros, através da linguagem que não nos diz, é que nos formamos e não apenas nos informamos, já que toda e qualquer informação tem prazo de validade, enquanto aquilo que nos foram constituindo, formando-nos, vivendo e sentindo, não.
Dessa maneira, um dos elos que unem a filosofia à literatura é linguagem carregada de sentidos e reflexões. Walter Benjamim no famoso texto O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov nos apresenta a ideia de que a precarização das narrativas de hoje se dá devido à ausência das grandes vivências. Sendo assim, como narrar o que não se viveu? Como alimentar a imaginação com tanto pragmatismo? E o mais grave é destacado por ele quando nos alerta que as experiências estão deixando de ser comunicáveis. Isolamo-nos e construímos um mundo paralelo, e se não bastasse ser apenas efêmero, traz o prejuízo de nos fazer acreditar copiosamente nele. Diante destas questões, podemos afirmar sem nenhum exagero que precisamos muito mais da filosofia, da literatura, da linguagem simbólica que nos encaminha e desenvolve as nossas percepções, do que em qualquer outro momento da nossa história.
Sem tons apocalípticos ou niilistas, mas sob a égide da compreensão do mundo contemporâneo, vivemos em um mundo doente, com pessoas cada vez mais doentes. O pior é que sabemos disso, como também sabemos a cura, todavia, a covardia de se viver a vida no enfrentamento para de fato vivê-la, nos domina e vai nos aniquilando. Podemos exemplificar essa nossa condição ao nos deparar com duas obras distintas de um mesmo autor com Dostoiévski. Como nos arrepia e nos oferece um soco no estômago Memórias do subsolo. Nesse livro, percebemos o quanto somos sujeitos ruins, doentes e mentirosos. Construímos ilusões em malefício nosso e dos outros. Quando algo nos é trazido sem um véu destas fantasias estéreis, rejeitamos imediatamente, por exemplo, no enredo, quando uma prostituta busca consolo com o narrador no lamento da morte de uma amiga também prostituta, que será enterrada como indigente. Nesse caso, nosso narrador-personagem, sem nenhum receio, indaga por que ela estranha isso, e ressalta que o destino dela será o mesmo, sem qualquer dúvida.
Assim, encarar a realidade não é fácil na sua sagacidade, então, apelamos defensivamente para o otimismo e para a bondade humana, e eis que novamente Dostoiévski nos humilha com outra narrativa que nos assombra, em O Idiota. O personagem principal, o príncipe Liév Nikoláievitch Míchkin, ou só príncipe Míchkin, nos irrita não por suas atrocidades comuns aos nossos dias, mas por toda a sua bondade. Mesmo quando as pretensões de outros personagens como Gánia, e em alguns momentos, Nastácia Filíppovna, são de irritá-lo, ofendê-lo, diminuí-lo, não ocorre por parte dele nenhum incômodo. Mantém-se da mesma maneira, sereno e tranquilo, e não só de modo aparente, como também em seu ser, isto é, ele não cria uma máscara de feições, ele não se irrita porque de fato não se sente ofendido, diminuído. Todo esse excesso de bondade dele desenvolve em nós aflições, pois nem de longe conseguimos ser pessoas desprovidas de egocentrismo e de maldade. Somos sujeitos que, na maldade alheia, nos vemos e nos irritamos e, na bondade de outros, temos a mesma postura. Isso só demonstra que, quando nos voltamos para nós (para si), é que nos vemos, diante destas obras ficcionais e dos diálogos filosóficos, o quanto somos cada vez menores, em todos os sentidos.
Quando o poeta Francis Ponge afirma que os homens na sua maior parte parecem privados das palavras e estão tão mudos quanto às carpas e pedregulhos, ele não deixa de ter razão. Estamos mudos e surdos diante do mundo. Fugimos da palavra-símbolo, utilizamos apenas a palavra no sentido referencial para nos comunicar e não nos inquietar tanto, menos ainda nos provocar angústias. Viver neste automatismo verbal nos alenta e, portanto, não se alimentar desta palavra-símbolo, sugestiva, oferecida pela literatura e filosofia, faz acreditar que nos faz bem, e desta maneira seguimos o conselho irônico e realista dos nossos dias feito por Albert Camus em A Queda, prometemos ser verdadeiros e mentirmos da melhor maneira que pudermos.

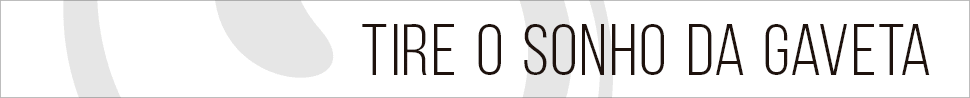


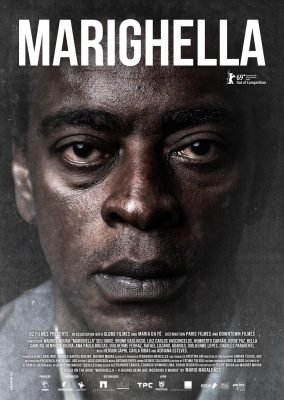

 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack