
Is it necessary to walk, and walk, and walk,
burdened the will to live, to
walk through a meaningless life
under relit, but long extinguished stars
keeping the delirium of the universe
alive forever in its dream…
(Yeghishe Charents, tradução de Diana Der Hovanessian)
Ficamos por alguns dias brincando de esconde-esconde, o Ararat e eu. E ele imponente, muito orgulhoso de sua condição, não me deu a mínima escondendo-se atrás de densa névoa. Sim, dei-me o luxo de respirar outros ares e realizar sonhos antigos. Digo luxo porque tenho consciência de que, no meu país, a apenas uns poucos privilegiados é dado o direito de ir e vir. Não me incluo entre os privilegiados pela condição financeira, mas pela sede de conhecimento que me consome a ponto de planejar por anos o viajar que, para mim, é sinônimo de aprender. Volto e sou saudada com mais do mesmo: a morte de inocentes e o silêncio em torno de suas causas, como a me dizer: afogue-se! que direito você tem de respirar quando uma criança por ser negra e pobre não tem sequer o direito de crescer?
Afoguei-me na tristeza que não cansa, sendo salva pelo que carrego na memória. O Cáucaso, com toda sua profundidade histórica, foi meu destino começando pela Armênia. Para quem não perdeu as aulas de história geral, mesopotâmia, assírios, sumérios, babilônia, escrita cuneiforme serão sempre palavras entendidas como traços do berço da humanidade.  Quem se aprofundou um pouco mais, sabe que foi naquela região que a arqueologia datou as primeiras ferramentas da idade da pedra e encontrou o sapato mais antigo. Os amantes do vinho também sabem que por lá se encontraram os primeiros vestígios de sua fabricação. E se tudo isso for pouco para os que só encontram na Bíblia a sua verdade, foi por lá que seu deus instalou o jardim do Éden e, depois do pecado e do castigo, fez parar a arca de Noé sobre o monte Ararat estabelecendo uma nova aliança. Motivos suficientes para despertar curiosidade e o desejo de ver de perto as marcas orgulhosamente guardadas por seu povo.
Quem se aprofundou um pouco mais, sabe que foi naquela região que a arqueologia datou as primeiras ferramentas da idade da pedra e encontrou o sapato mais antigo. Os amantes do vinho também sabem que por lá se encontraram os primeiros vestígios de sua fabricação. E se tudo isso for pouco para os que só encontram na Bíblia a sua verdade, foi por lá que seu deus instalou o jardim do Éden e, depois do pecado e do castigo, fez parar a arca de Noé sobre o monte Ararat estabelecendo uma nova aliança. Motivos suficientes para despertar curiosidade e o desejo de ver de perto as marcas orgulhosamente guardadas por seu povo.
É evidente que em poucos dias não se faz uma imersão. No entanto, é possível selecionar e ver templos pagãos e cristãos. Mosteiros que guardam os mistérios do nascimento de uma religião que deveria sacudir o antigo testamento. Optar, com muito pesar, por não ver os manuscritos científicos e religiosos desse período. Tentar entender os conflitos geopolíticos recentes. Perder-se pelas ruas da agitada Yerevan em busca de livrarias ou descobrir nos calçadões seus poetas, músicos, bailarinos por puro acaso. E, obviamente, experimentar a comida e a bebida local. Com foco, a intensidade estica o tempo e minimiza o machucado dos pés. 
Foi assim que dois lugares me fizeram entender o porquê dessa jornada nesse instante: o monumento e museu em homenagem às vítimas do genocídio Armênio (1915) e o Yeghishe Charents Memorial Museum. No primeiro, um ponto turístico obrigatório com tudo muito organizado e explicado em vários idiomas, sob o ponto de vista armênio naturalmente. Como uma necessidade de expor ao mundo a imensidão de suas dores e a versão dos vencidos. Em uma espiral de moderna arquitetura, textos e imagens fortes me fizeram sair do local às pressas. Ver crianças como vítimas da brutalidade de que os seres humanos são capazes me rouba o chão. Assim como me tirou o ar a extensa relação de intelectuais, entre eles a escritora e feminista Mari Beyleryan, executados pelo simples fato de defender o livre pensar.
No segundo, uma escolha pessoal e intuitiva sem guia ou indicação. Depois de horas tentando decifrar placas de rua em um alfabeto desconhecido, seguindo um aplicativo de GPS no celular (bendita tecnologia!), encontro o lugar simples em que se instala o Museu em memória do grande poeta Yeghishe Charents. É, na verdade, o apartamento em que ele e sua família residiram, adaptado com um hall de acesso para a rua. Entrada paga, língua e origem identificadas, a atendente me pediu que aguardasse a pessoa que me acompanharia na visita.  Paciente em seu bom inglês, ela inicia se apresentando com o brio próprio de uma neta que conta a história de seu avô genial. Uma onda de emoção arrepiou todos os pelos do meu corpo, e as lágrimas banhavam meu rosto à medida em que que líamos trechos dos manuscritos traduzidos e meu ouvido captava a veemência de suas explicações. Despedimo-nos com um abraço confortador que me encheu de esperança.
Paciente em seu bom inglês, ela inicia se apresentando com o brio próprio de uma neta que conta a história de seu avô genial. Uma onda de emoção arrepiou todos os pelos do meu corpo, e as lágrimas banhavam meu rosto à medida em que que líamos trechos dos manuscritos traduzidos e meu ouvido captava a veemência de suas explicações. Despedimo-nos com um abraço confortador que me encheu de esperança.
E daí? Quem é esse cara tão pouco conhecido pelas bandas de cá? Charents é hoje considerado um herói nacional. Participou como voluntário, aos 18 anos, das batalhas contra o genocídio e escreveu o longo poema Dantesque Legend, em que compara o que viu ao Inferno de Dante. Mais tarde, engaja-se na revolução bolchevique (na ocasião a Armênia fazia parte do império russo) para formação da República Democrática da Armênia, parte integrante da União Soviética a partir de 1922. Estudioso e defensor da teoria marxista, o poeta logo se dá conta dos desvios impostos por Stalin tornando-se um defensor da autonomia e da cultura local. É perseguido, preso e morto como traidor da revolução. Seu nome é proibido de ser mencionado. Seus livros são destruídos e seus originais sobreviveram graças à corajosa ação de uma amiga que os escondeu nos porões de sua casa. A filha mais velha é enviada a um orfanato. A esposa e a filhinha de dois anos (mãe da senhora que me fala) são exiladas. Com a morte de Stalin e subida de Khrushchev ao poder na década de 1950, seu nome é reabilitado, seus poemas são novamente publicados e traduzidos pelo mundo.
Retorno aos meus lençóis e a este espaço de escrita, em que as ideias têm a liberdade de seguir, com a sensação de que as lições da história não nos ajudaram na evolução como seres humanos. Em algum ponto nos perdemos. Peço perdão à Agatha Félix, à Jenifer Gomes, ao Kauã Rozário, à Letícia Ferreira, à Lauane Batista, ao Dyogo Coutinho e aos demais bebês, crianças e adolescentes vítimas da sociopatia que nos governa neste ano de 2019, pela teimosia que me faz respirar. Como o poeta que hoje me guia, repito com a respiração ofegante dos que sobrevoaram desertos e oceanos, que é preciso seguir munida do desejo de viver. Ainda que a vida pareça sem sentido, reacendo estrelas há muito apagadas para manter o delírio do universo sempre vivo nos meus sonhos. Haveremos de encontrar a humanidade perdida.
Sergia A. (sergiaalves@hotmail.com) vive em Teresina-PI, como aprendiz de letras e espantos. Mestra em Letras/Literatura, Memória e Cultura, é autora do livro Quatro Contos, Editora Quimera (Teresina, 2018) e participou de coletâneas diversas: A mulher na literatura Latino-americana, Editora EDUFPI/Avant Garde (Teresina, 2018); Conexões Atlânticas, Infinita (Lisboa, 2018); 2ª Coletânea Poética Mulherio das Letras ABR Editora (Guarujá, 2018); Antologia do Desejo: Literatura que desejamos, Patuá (São Paulo, 2018)







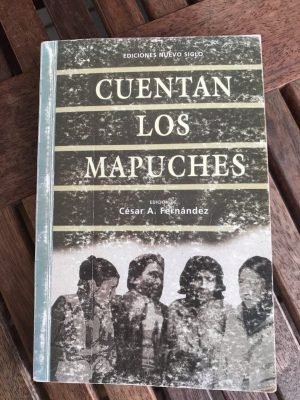


 Quem se aprofundou um pouco mais, sabe que foi naquela região que a arqueologia datou as primeiras ferramentas da idade da pedra e encontrou o sapato mais antigo. Os amantes do vinho também sabem que por lá se encontraram os primeiros vestígios de sua fabricação. E se tudo isso for pouco para os que só encontram na Bíblia a sua verdade, foi por lá que seu deus instalou o jardim do Éden e, depois do pecado e do castigo, fez parar a arca de Noé sobre o monte Ararat estabelecendo uma nova aliança. Motivos suficientes para despertar curiosidade e o desejo de ver de perto as marcas orgulhosamente guardadas por seu povo.
Quem se aprofundou um pouco mais, sabe que foi naquela região que a arqueologia datou as primeiras ferramentas da idade da pedra e encontrou o sapato mais antigo. Os amantes do vinho também sabem que por lá se encontraram os primeiros vestígios de sua fabricação. E se tudo isso for pouco para os que só encontram na Bíblia a sua verdade, foi por lá que seu deus instalou o jardim do Éden e, depois do pecado e do castigo, fez parar a arca de Noé sobre o monte Ararat estabelecendo uma nova aliança. Motivos suficientes para despertar curiosidade e o desejo de ver de perto as marcas orgulhosamente guardadas por seu povo.
 Paciente em seu bom inglês, ela inicia se apresentando com o brio próprio de uma neta que conta a história de seu avô genial. Uma onda de emoção arrepiou todos os pelos do meu corpo, e as lágrimas banhavam meu rosto à medida em que que líamos trechos dos manuscritos traduzidos e meu ouvido captava a veemência de suas explicações. Despedimo-nos com um abraço confortador que me encheu de esperança.
Paciente em seu bom inglês, ela inicia se apresentando com o brio próprio de uma neta que conta a história de seu avô genial. Uma onda de emoção arrepiou todos os pelos do meu corpo, e as lágrimas banhavam meu rosto à medida em que que líamos trechos dos manuscritos traduzidos e meu ouvido captava a veemência de suas explicações. Despedimo-nos com um abraço confortador que me encheu de esperança.
 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack