Do que se sabe da formação do cânone ocidental na literatura, especialmente da poesia, a mãe das sociedades deste lado do mundo (a Grécia Antiga) formou suas bases na poesia épica. Ainda poderei ser mais fatalista: se tivéssemos que pronunciar um e somente um nome para representar tal momento, o nome seria “Homero”. Ninguém foi tão soberano no campo da literatura clássica quanto ele. Não se sabe e nunca se saberá quantos seguidores o autor de Ilíada teve (e tem), mas podemos afirmar que todos fracassaram quando tentaram rivalizar com aquele que confundiu seu nome com o nome “poesia”. Homero era a encarnação da poesia. Estudar a obra de Homero na Grécia de seu tempo não era apenas uma ordem; era um dever existencial de um povo. Pronunciar a palavra “Homero” era dizer, quase com as mesmas letras, “doutrina”.
No entanto, para os dias de hoje, onde há uma complexidade diferente daquele tempo, seu nome representa uma simbologia de uma obra consolidada, fundamental, mas ela não foge ao ambiente da discução como acontecia em seu tempo. Homero é um gigante, uma pilastra das letras, mas não exerce a mesma soberania de outrora. Cogita uma soeidade finalizada, não o reflexo confinante de uma realidade. O poeta grego trata de tudo o que é humano e desumano em cada um de nós. A Ilíada mostra campo aberto de batalhas individuais; a Odisseia¸ a aproximação com as normas, caprichos e falhas da vida mundana.
Não seria exagero nem mesmo redundante dizer que Homero era “homérico”. Mas a força de sua narrativa é tão grande que ele, o poeta, parece não estar ali, no poema, quando o lemos, embora saibamos que ele, Homero, impõe sua força em cada letra. A exemplo de Aquiles, no final da Ilíada, a cada instante, o poeta procura a última vitória, e esta não é outra senão a de ter que vencer a si mesmo. Ainda que só possamos analisar a poesia lírica da Grécia Antiga de maneira fragmentada. Era uma poesia dionisíaca. Aqui, tem destaque a poesia de Píndaro com sua “Epinikioi”, ou seja, suas canções de exaltação à vitória de seu povo em qualquer meio. Píndaro exerceu forte influência na poesia de seu tempo e nos séculos seguintes. O poesia sabia criar uma amálgama de espiritualidade e altivez de maneira originalíssima. Ainda assim, Píndaro não escrevia com clareza imediata. Suas composições eram marcadas pelo rebuscamento de uma linguagem densa, cheia de metáforas. Trata-se de uma poesia rica, com poemas muito bem construídos, onde a música era seu ativo mais caro; sua pilastra central. Mas quem inaugura o cosmopolitismo da literatura não é Dante nem Píndaro: é Ésquilo com o seu Prometeu Agrilhoado.
Há uma força transitiva neste momento, onde outra figura, a de Eurípides, marca profundamente. Agora, a temática da vez é a nova concepção de Cidade, onde o indíviduo os meandros de sua vida são do interesse do poeta. É a alma solitária do ser humano, a matéria-prima de sua poesia. Com o experimento de uma queda na qualidade poética de seus primeiros anos, a Grécia encontrou em Sófocles um suposto mediador de situações extremadas e, mesmo quando o poeta não conseguiu encontrar este caminho, apresentou ao mundo uma poesia suavemente dolorosa, encantadora, que o colocou em um patamar de preferência dos chamados classicistas. Um mestre da construção estética da palavra; um senhor soberano do lirismo, ainda que ele concebesse que somente pelo sofrimento é que podemos apontar com segurança nosso verdadeiro lugar no universo. Mas foi em Platão, o Platão poeta, que a poesia desembocou de vez nas profundas da razão até chegar no mito. Neste ciclo inicial da poesia, é salutar destacarmos a poesia “alexandrina”, de caráter erudito, marcada pela liberdade do espírito poético, que tem em Calímaco seu nome mais destacado, com seu belíssimo poema O Caracol de Berenice. E as linhas enviesadas da poiesis começam a se expandir. Com o declínio da civilização grega, as características poéticas de então se assemelhavam ao que viria a ser chamado de moderno (a melancolia erótica de Teócrito que, nas palavras de Ezra Pound, foi um dos maiores de todos, é representante clássico deste novo instante). Portanto, começa ali, na Grécia Antiga, o périplo desta deusa do esquecido: a poesia.
Nathan Sousa (Teresina, 1973) é ficcionista, ensaísta, poeta, letrista e dramaturgo. Tem vários livros publicados, dentre eles Um esboço de nudez (2014) e Semântica das Aves (2017). Venceu por 04 vezes os prêmios da União Brasileira de Escritores, foi finalista do Prêmio Jabuti 2015 e do I Prémio Internacional de Poesia Antonio Salvado.
email: nsrlezama@hotmail.com




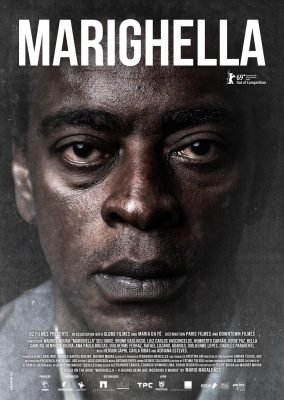



 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack