Por André Henrique M. V. de Oliveira
Por mais absurdo, inacreditável ou mesmo óbvio que possa parecer, muitas das teorias filosóficas surgidas, por milagre ou maldição, na cabeça dos mais insignes pensadores que povoam a história da filosofia são posteriormente confirmadas pela, sempre confiante, ciência. Um exemplo dessas teorias pode ser identificado na historiografia filosófica sob o nome de idealismo, notadamente atribuído em sua origem a pensadores alemães.
Se compreendida de forma superficial, a afirmação de que o mundo é uma criação da mente de cada indivíduo pode parecer apenas um delírio, mania de grandeza ou atestado de necessidade de tratamento psiquiátrico. Mas, se contarmos até sete, veremos que realmente faz sentido dizer que “o mundo é minha representação”.
Não é perigoso afirmar que o chamado idealismo alemão encontra no filósofo Imannuel Kant suas raízes mais fortes. Em sua monumental Crítica da razão pura o pensador demonstra que, apesar de podermos dizer que o mundo existe independente da forma como nós o percebemos, somos completamente incapazes de conhecer um tal mundo; toda realidade que nos é acessível consiste apenas naquilo que é captável por nossos órgãos sensoriais, conjuntamente com o nosso cérebro.
Na verdade, Kant não chega a ser tão cru(el). O que ele diz é que possuímos formas puras para a sensibilidade (o espaço e o tempo) que nos permitem perceber os objetos do mundo; e formas puras do entendimento (unidade, pluralidade, necessidade, causalidade, etc.) que nos permitem conceituar tudo que compõe o mundo. Um grande admirador de Kant, Arthur Schopenhauer, é que algum tempo depois teve a sacada de dizer: todas essas formas puras são tão somente funções cerebrais. Nada mais.
Pois bem. A fisiologia dos órgãos dos sentidos confirma que não temos acesso à realidade de maneira pura e direta. O que percebemos e nomeamos como “mundo” ou “objetos” no mundo, é construção do nosso cérebro. “A fisiologia dos órgãos dos sentidos”, escreveu Albert Lange ainda no século XIX, “é o kantismo desenvolvido ou retificado”. De modo geral, o aspecto da realidade ao qual não podemos ter acesso é chamado pelos idealistas de “coisa em si”. Já a parcela da realidade construída segundo nossa atividade cerebral é chamada de “fenômeno”, ou “aparência” (Erscheinung, em alemão). Mas, agora deixem-me contar um sonho que tive.
Eu estava dirigindo. De repente notei que o freio não estava funcionando. O carro descia uma ladeira em alta velocidade e eu me vi numa situação em que nada podia fazer para impedir o acidente. Perdi completamente o controle do automóvel, que no fim da ladeira atingiu a grade de proteção de uma ponte. A colisão foi forte a ponto de romper a grade de proteção e o carro caiu no rio. Fiquei preso enquanto a água invidia o carro. Completamente imerso e sem qualquer chance de escapar, apenas me debatia vagarosamente, tendo sido dominado pela água. Era meu fim. Acontece que quando morri……acordei.
Já desperto, fiquei encabulado com isso: no sonho eu não consegui experienciar minha morte. Na vida, digamos, “real”, também não conseguimos experienciá-la. Não há como conceber uma experiência da morte, pois isso implicaria ter consciência, e se temos consciência não podemos estar mortos. Quando morri no sonho, acordei na vida. Fiquei me perguntando: quando morrer na vida, acordarei também? Claro que não quero saber a resposta…
A morte, assim como a “coisa em si”, é o inacessível, o não-experienciável; é aquilo que nossa consciência não pode captar de forma alguma. Tente você, caro leitor, imaginar um mundo onde você não está. Conseguiu imaginar? Claro que não! Nesse mundo que você imaginou existe alguém que o observa: é você mesmo, olhando para o mundo. A consciência é uma película (imaterial?) que não conseguimos atravessar e que também não sabemos determinar quando foi urdida. O nascer e o morrer são ações que não estão sob meu controle ou, se estão, demonstram que há algo no “eu” que é muito mais poderoso, determinante e impositivo do que a frágil “consciência-eu”.
Em algumas línguas, quando se diz “eu nasci” o verbo ser vem sempre como intermediário do verbo nascer. Por exemplo, “I was born”, “Je suis né”, “Ich bin geboren”, ao pé da letra, significam “Eu sou nascido”, “Eu fui nascido”. Do mesmo modo “I am dead”, “Je suis mort”, “Ich bin tot”: “Eu sou/estou morto/morrido”. O verbo fica sempre no particípio passado, como se algo outro tivesse feito aquilo em mim – a ação de nascer e a de morrer não são executadas por um “eu-consciente”.
Se, como bom cristão, eu ainda quiser acreditar no livre-arbítrio, então deverei admitir que são os atos que não escolho (nascer/morrer) que me tornam livre. E isso é muito bonito: não sou eu (consciência) que mando na minha vontade, a minha vontade é que manda em mim. Ou, simplesmente, eu sou minha vontade, portanto, sou livre justamente porque não me escolhi. Como dizia Rimbaud: “É errado dizer ‘eu penso’. Deveríamos dizer ‘sou pensado’.”
Mas, esse texto não deve ser levado ao pé da letra. Até porque “ao pé da letra” é uma metáfora.

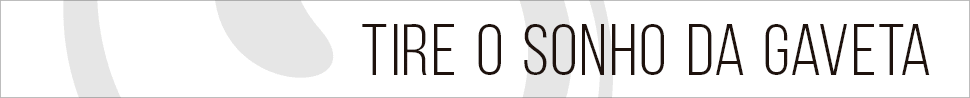


 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack