Vivemos imersos em um aparato técnico sem precedentes, que atravessa todas as instâncias da vida e molda não só o mundo, mas também a nós mesmos. O que antes se entendia por experiência sensível é hoje reconfigurado por sistemas e dispositivos técnico-digitais que, longe de serem neutros, alteram as dinâmicas de mediação e formatação do sensível, automatizam, intensificam e programam nossos modos de perceber o mundo vivido. Cada gesto, imagem ou estímulo é capturado e modulado. O sensível, que já foi domínio da experiência imediata, tornou-se campo tecnicamente operado: agora é matéria de disputa, de controle e rentabilidade.
O sensível, que já foi domínio da experiência imediata, agora é matéria de disputa, controle e rentabilidade. O desafio é compreender como escapar ao mero comentário tecnológico e formular uma nova gramática crítica para nomear e resistir à colonização da experiência.
Essa mutação técnico-ontológica do sensível fundamenta a proposta da hiperestética, conceito que venho desenvolvendo em meu doutorado e que busca dar conta desse regime estético contemporâneo em ascensão. O desafio é compreender como tais transformações escapam ao mero comentário tecnológico e exigem a formulação de uma nova gramática crítica para nomear e resistir à colonização da experiência.
No centro dessa discussão recupero autores que desmontam o mito da neutralidade técnica. Walter Benjamin, nos anos 1930, foi pioneiro ao mostrar como as técnicas de reprodução dissolvem a aura e politizam o sensível, abrindo-o tanto à emancipação quanto à manipulação. Sua leitura antecipa a percepção técnica e histórica como campo de disputa e poder. A obra de Benjamin – com seus conceitos do “choque” e da estetização da política – é central para pensar como o sensível, ao ser tecnicamente mediado, transforma-se em arena de conflito, seja para a produção de novas formas de experiência coletiva, seja para a banalização e anestesia da percepção.
Já Heidegger apontava que a técnica moderna não é simples instrumento, mas modo de desvelamento do ser: o mundo aparece sob a lógica do enquadramento (Gestell), como recurso disponível, pronto para uso, reconfigurando a própria experiência do sensível. A técnica, para Heidegger, não apenas revela, mas impõe um regime de visibilidade e disponibilidade, alterando fundamentalmente nossa relação com o real.
Gilbert Simondon mostra que os objetos técnicos são sistemas em evolução, indissociáveis de processos de individuação que atravessam sujeito, meio e máquina. Ele desmonta a separação rígida entre homem e técnica, afirmando que a individuação técnica é, também, individuação do sensível: os objetos técnicos redesenham nossos circuitos de afecção, cognição e percepção, instaurando novas formas de relação e de subjetivação.
Friedrich Kittler aprofunda essa linha: para ele, os dispositivos não apenas mediam, mas estruturam materialmente a percepção – no que chama de “percepção mediada” – operando invisivelmente sobre o sensível, que já nasce modelado por arquiteturas técnicas que determinam não apenas o que pode ser visto, mas também o que pode ser sentido e comunicado. Isso antecipa o funcionamento algorítmico contemporâneo.
Wolfgang Welsch, ao tratar da estetização generalizada, revela como a sensibilidade transborda o campo da arte para ocupar toda a vida cultural, inclusive a ciência, passando pelo consumo e pelo cotidiano. Sua noção de “estetização epistemológica” desloca a estética do campo restrito das artes para o plano ampliado da cultura, mostrando como o sensível passa a ser valor e critério de verdade em todos os domínios.
A hiperestética dissolve as mediações clássicas e impõe uma outra lógica, baseada na intensidade, no excesso, na repetição e na programação técnica. A hiperestética é uma política da sensibilidade governada por interesses invisíveis – ou nem tanto – e onipresentes.
Jean Baudrillard, ao propor a “hiper-realidade”, pensa na substituição do real por simulacros e signos que performam presença, saturando o mundo por operações repetidas. Em vez de uma relação direta com o real, vivemos imersos em simulacros que não remetem mais a nada além de si mesmos, com esse real dissolvido em redes de signos, e a experiência sensível mediada por uma máquina incessante de produção de simulacros.
Trazendo essas leituras para os nossos dias, as tecnologias digitais e todo o aparato técnico que nos circunda formatam o que Andrew Feenberg chama de tecnossistema: uma articulação material, simbólica e normativa que ultrapassa a funcionalidade dos artefatos e penetra toda a organização social e política do mundo. Em nossa ideia de hiperestética, esse tecnossistema é alimentado e ancorado por uma infraestrutura de subjetivação que define possibilidades, impõe ritmos, estabelece prioridades e filtra o sensível conforme lógicas de poder e de interesse. Toda a experiência estética é reconfigurada por mediações operadas por estruturas digitais, dispositivos, algoritmos e interfaces, de modo intensificado, performativo e ininterrupto. Não se trata de mera mediação do sensível, mas de sua reprogramação estrutural, ou uma mutação programada do próprio regime do sentir.
Ao pensar a hiperestética é fundamental o gesto de deslocar a análise estética da arte para o cotidiano: ela se instala na política, na economia, na educação, na arquitetura das cidades, nos ambientes de trabalho, nas relações íntimas. O sensível é reorganizado em múltiplos níveis.
A hiperestética, como proponho, não pode ser reduzida a um fenômeno comunicacional ou estilo artístico. Trata-se de uma mutação estrutural das possibilidades de percepção do mundo vivido, atravessando todos os campos: do transporte à política, do desejo à atenção, da linguagem aos afetos. A experiência sensível não é apenas mediada, mas delineada por operações algorítmicas, estratégias de design tecnológico e interesses econômicos que redefinem critérios, objetos de referência e condições de possibilidade do sentir.
O regime hiperestético absorve e ultrapassa tanto a tradição da aisthesis – palavra grega que se referia à percepção sensível, corpórea – quanto a compreensão pós-Baumgarten e Kant sobre a estética, centrada na harmonia da forma bela e na universalidade subjetiva. Ao contrário do projeto estético da modernidade, que buscava uma ponte entre o sensível e o inteligível por meio do juízo de gosto, a hiperestética dissolve as mediações clássicas e impõe uma outra lógica, baseada na intensidade, no excesso, na repetição e na programação técnica. Plataformas, interfaces e algoritmos atuam como infraestruturas sensíveis do capitalismo contemporâneo, reorganizando o campo perceptivo segundo critérios de rentabilidade, atenção, visibilidade e performatividade. A hiperestética é, portanto, uma política da sensibilidade, governada por interesses invisíveis – ou nem tanto – e onipresentes.
Busca-se fazer, da experiência estética, algo previsível, domesticado e cada vez mais incapaz de produzir estranhamento ou abertura ao novo. A hiperestética configura-se como estrutura de biopoder no atual “capitalismo digital”.
Ao pensar a hiperestética como regime é fundamental o gesto de deslocar a análise estética da arte para o cotidiano: ela se instala na política, na economia, na educação, na arquitetura das cidades, nos ambientes de trabalho, nas relações íntimas. O sensível é reorganizado em múltiplos níveis. Exemplos, hoje, são quase infinitos: protocolos e instrumentos da medicina, interfaces dos sistemas bancários, meios de entretenimento, aplicativos de meditação, de relacionamentos, o aparato bélico-militar e mesmo a conformação dos nossos lares, cada vez mais adaptados às configurações técnicas. Vemos, julgamos, nos movimentamos e tomamos decisões segundo padrões tecnicamente impostos para clareza, eficiência, velocidade, desejabilidade e instantaneidade. O “olhar digitalizado” torna-se o novo filtro da legibilidade social. E mais que isso: da própria realidade e, até mesmo, do imaginário.
Essa reorganização do sensível opera uma dupla intensificação: de um lado, excesso de visualidade, performatividade e codificação formal; de outro, saturação sensorial dirigida ao corpo, impulsionada por dispositivos que modulam a percepção em tempo real. O resultado é o que tenho chamado de experiência estética condicionada: busca-se fazer, da experiência estética, algo previsível, domesticado e cada vez mais incapaz de produzir estranhamento ou abertura ao novo.
Pensar a hiperestética, então, é também um gesto crítico e político. Dar nome a esse regime é tornar visível a captura do sensível e denunciar a hiperestetização programada das emoções e dos corpos como forma de controle afetivo e modulação comportamental. A hiperestética configura-se como estrutura de biopoder no atual “capitalismo digital”, que trabalha ininterruptamente para capturar nossa atenção e, nesse movimento, naturaliza estratégias de engajamento e monetização da experiência.
O controle sensível instaurado pela hiperestética não opera pela repressão direta, mas pela colonização da sensibilidade: seduz, imerge, antecipa escolhas e tenta suas operações. A experiência se confunde com o belo, o funcional, o prazeroso, mas tudo deve ser moldado e performado para atender aos interesses de captura e circulação de valor. Nesse novo regime, o sensível torna-se ativo estratégico. Presença, atenção, afeto, gesto, silêncio: tudo é capturado, quantificado e financeirizado. Shoshana Zuboff chama esse momento do capitalismo de “capitalismo de vigilância”, e descreve como as plataformas extraem dados comportamentais e os monetizam, transformando a atenção em principal recurso econômico.
Jonathan Crary demonstra que até o tempo social – o ciclo de sono e vigília – é alvo de colonização. O sono, até pouco tempo a última fronteira da experiência não capturada, é agora visto como obstáculo à lógica da extração e à produtividade plena. A vigília perpétua parece ser meta central desse capitalismo digital.
No contexto da hiperestética, até a presença é mercadoria. Hans Ulrich Gumbrecht trabalha com a compreensão da produção de presença como efeito estético e existencial a partir de uma desermeneutização da experiência estética. Mas, no mundo digitalizado e plataformizado, o que era densidade material ou encontro imprevisível com o real se torna recurso programado e imediatamente inserido na lógica valorativa. A experiência estética condicionada – ou seja, o contato instrumentalizado, performado e mercantilizado com o mundo – é condição central da monetização digitalizada.
Franco Berardi chama de “capital afetivo” essa valorização da emoção e do desejo como núcleo da produtividade. Não estamos mais diante de um capitalismo materialista, mas de um regime em que o trabalho imaterial, a disponibilidade afetiva e a performatividade se tornam motores de diferenciação e de produção em larguíssima escala. Corpos e presenças são constantemente estilizados e curados como diferencial competitivo e inseridos em atmosferas – no sentido proposto por Böhme – produzidas para objetivos políticos e econômicos.
Gilles Lipovetsky já havia sugerido que vivemos sob um capitalismo estético, no qual os valores da forma e da sensação penetram todas as esferas da vida econômica. A estética se torna vetor de diferenciação mercadológica. O regime hiperestético realiza, aqui, mais uma inflexão crítica, ao absorver a estética como componente fundamental do valor econômico. Não se trata mais de vender produtos “belos”, mas de estruturar toda a experiência como ambiente de valor: cada gesto, cada emoção, cada presença, cada silêncio é potencialmente capitalizável, toda fruição é dado, toda presença torna-se métrica. Talvez seja possível afirmar, nos moldes benjaminianos, que o “sex-appeal do inorgânico”, antes associado ao fascínio técnico, deu lugar a um “sex-appeal da percepção sensível”: o encantamento programado da própria experiência, estetizada em tempo real e convertida em possibilidade – e necessidade – de monetização.
Em busca de uma cartografia inaugural da hiperestética, sintetizo esse regime em cinco balizas: 1) excesso sensorial, 2) tecnomedição, 3) performatividade do eu, 4) dissolução de fronteiras, e 5) economia política do sensível.
- Excesso sensorial – a hiperestética opera com a intensificação de estímulos, a saturação do sensível, a estimulação contínua do corpo e a captura constante da atenção.
- Tecnomediação – dispositivos, algoritmos e plataformas são curadores e filtros do sensível, e inseparáveis da experiência contemporânea; não há mais percepção “pura”: toda sensação é filtrada por infraestruturas técnicas que selecionam, valorizam e monetizam a experiência.
- Performatividade do eu – a subjetividade é continuamente modulada por padrões de visibilidade e legibilidade algorítmica; o “eu” é uma produção estética permanente, orientada por métricas de engajamento e algoritmos de visibilidade.
- Dissolução de fronteiras – fim das distinções entre arte e vida, estética formal e estética do cotidiano; a hiperestetização é infraestrutural e sistemática; o cotidiano se converte em campo de edição contínua de si, e não há mais exterior à lógica estética.
- Economia política do sensível – o sensível é campo de disputa política e econômica, com a dessensibilização pelo excesso operando como mecanismo central de anestesia crítica e captura da atenção. Não há neutralidade: cada reorganização do sensível corresponde a interesses, conflitos e estratégias de poder.
Essas balizas são pontos de partida para se compreender – e tensionar – o regime hiperestético, desnaturalizando sua onipresença e denunciando seus mecanismos de controle. A hiperestética é mais que estilo ou efeito da técnica: é um sistema de produção sensível orientado por regimes de valor, e seu funcionamento é totalizante. Compreender suas lógicas é o primeiro passo para romper o automatismo da experiência e abrir frestas críticas, com espaços para introdução de desvios capazes de devolver ao corpo e ao tempo sua densidade, e redescobrir a potência do estranhamento do mundo. E nos sugerir gestos de resistência, que podem ser, por exemplo, a reintrodução da lentidão, a realização de pausas críticas no fluxo incessante do mundo digitalizado ou a aceitação da hesitação e do erro como estratégia política.
Finalizando, considero que pensar numa hiperestética é reconhecer que a sensibilidade passou a ser campo estratégico técnica, econômica e politicamente operado. Nomear esse regime configura gesto epistêmico, ontológico e político, ao produzir um corte conceitual que permite enxergar, por trás da saturação estética contemporânea, as engrenagens técnicas e os interesses que a sustentam. É, também, recusar a naturalização da experiência digital como neutra ou inevitável, restituindo ao sensível sua densidade histórica, sua capacidade crítica e potencialmente transformadora. A hiperestética não se encerra como doutrina ou sistema fechado, mas se propõe como abertura e como interrogação sobre o presente e seus modos de sentir.
Responder à pergunta “por que pensar numa hiperestética?” é, portanto, recusar a captura total do sensível, tensionar as mediações invisíveis e, talvez, inventar – ou reinventar – outros modos de aparecer e de existir.
***
André Gonçalves é comunicador, artista visual, escritor, doutorando em Filosofia (PPGFIL-UFPI) e Mestre e Comunicação (PPGCOM-UFPI).

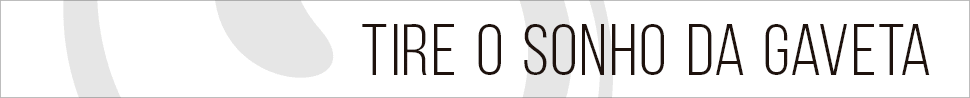


 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack