Talvez o que tenhamos deixado passar despercebido quando Lyotard nos disse que havia chegado ao fim a época das grandes narrativas foi o fato de que, na verdade, vivemos em múltiplos tempos, dentro de um “agora”: alguns de nós vivem no século 21, outros no 20, outros não passaram do 19 e há quem diga que temos grupos que vivem, ainda hoje, no período medieval (e até anteriores).
Com isso nós, que nos acreditamos “de esquerda”, nos permitimos fragmentar ao máximo nossas agendas e nossa pauta reivindicatória. Claro, já que isso que chamamos de pós-modernidade contempla essa infinita multiplicidade de referências e até mesmo nenhuma ao invés de um “norte”. E nos dissolvemos em nossas subjetividades, tantas, incontáveis, superpostas em nós mesmos e em possibilidades sem fim. E aí não somos “a” esquerda, mas quase infinitas “esquerdas”, que muitas vezes tentamos impor às demais e nos posicionar em uma linha reta sendo que, usando uma geometria ideológica de possibilidades como modelo, talvez fosse melhor tentar nos localizar enquanto “esquerda” em um dos pontos de um megágono tridimensional e maleável.
Então estamos nesse megágono que flutua e gira e não tem nenhum rigor de forma e nossos opositores, lá na lógica do século 19, seguem com um discurso que tem como base apenas aqueles três pontos que vêm, talvez, do século 17 e formam o esqueleto do conservadorismo: tradição, família e propriedade, que também pode ser lido como hierarquia, deus e capital, e, mesmo que aqui e ali eles tenham suas incongruências, o esqueleto segue sendo algum norte, apesar de, sim, esqueleto pós-cadáver, e uma estrutura. E os una.
Uma hora esse esqueleto ia sair dos armários mofados e se aproveitar da nossa multiplicidade, que ao mesmo tempo é nossa maior força e maior fragilidade, para tentar nos derrubar e, como está na letra “t” do tripé, nos levar de volta ao passado, mal-estruturado e feio, porém pronto, ao invés de nos projetar para um futuro desconhecido, mas possível de ser construído.
Zizek disse ali que nisso de pós-modernidade tudo se tornou demasiadamente próximo, promíscuo, sem limites, deixando-se penetrar por todos os poros e orifícios. Começo a pensar que ele está certo e que tudo isso, que poderia ser mesmo nossa grande oportunidade, se tornou nosso maior problema, já que essa promiscuidade e falta de limites e porosidade permite que o passado, o mofo e o retrocesso se mantenham vivos, fortes, firmes, e a superposição de tempos vividos possibilita que “os outros” tentem reassumir o comando de tudo usando uma nova grande narrativa: a narrativa do “não há nada melhor que isso”, ancorada na hierarquia social da tradição, no estruturalismo moral da família regida por um ser divino, e no capital, na propriedade, no acúmulo.
Vai ser uma luta difícil. Talvez precisemos também de uma nova grande narrativa. Será? Mas qual?

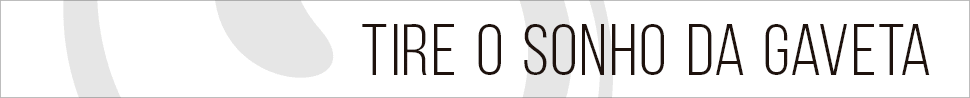


 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack