 Ele é jornalista e, em 30 anos de carreira, trabalhou como repórter e editor para o jornal O Estado de São Paulo, Revista Veja e foi diretor da Editora Abril. Nos últimos seis anos, entretanto, o talento com as palavras o fez figurar na lista dos mais vendidos com os consagrados livros “1808”, sobre a fuga da família real para o Brasil, e “1822”, sobre a independência. A carreira de escritor-historiador deslanchava sem pedir licença.
Ele é jornalista e, em 30 anos de carreira, trabalhou como repórter e editor para o jornal O Estado de São Paulo, Revista Veja e foi diretor da Editora Abril. Nos últimos seis anos, entretanto, o talento com as palavras o fez figurar na lista dos mais vendidos com os consagrados livros “1808”, sobre a fuga da família real para o Brasil, e “1822”, sobre a independência. A carreira de escritor-historiador deslanchava sem pedir licença.
Combinando história, jornalismo e literatura, essas duas obras de Laurentino Gomes ganharam premiações importantes. Ao todo, são quatro Prêmio Jabuti, dois na categoria livro-reportagem e dois na categoria livro do ano de não-ficção (em 2008 e 2010). Além disso, o “1808’ foi eleito o melhor ensaio do ano de 2008 pela Academia Brasileira de Letras. É ainda o livro brasileiro que permaneceu mais tempo na lista dos mais vendidos – foram três anos consecutivos, batendo a marca do recordista anterior, o “Estação Carandiru”, de Dráuzio Varella.
“1808” já ultrapassou a marca dos 900 mil livros vendidos e “1822” já chega a casa dos 600 mil. Somados, os dois livros já venderam 1,5 milhão de exemplares no Brasil e em Portugal. “São números surpreendentes em um país que tem a fama de ler pouco”, avalia o próprio autor.
Paranaense de Maringá, Laurentino é também um pouquinho piauiense. Ano passado, ele recebeu o título de cidadão piauiense na Assembleia Legislativa do Estado, por resgatar nacionalmente a história da Batalha do Jenipapo, uma das guerras de independência brasileira, acontecida no município de Campo Maior -PI. O escritor também participou do 9º Salão do Livro Piauiense, em palestra de abertura.
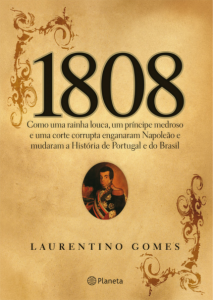 Atualmente, Laurentino está nos Estados Unidos, envolvido com o trabalho de pesquisa para o próximo livro a se chamar 1889. Foi de lá que o escritor respondeu as perguntas da Revestrés, sobre história, literatura e o novo livro-reportagem que vai trazer à tona detalhes sobre a Proclamação da República no Brasil. “Confesso que estou encantado pelas descobertas que fiz até agora”, diz. Para ligar ainda mais a relação do escritor com o Piauí, curiosamente, um dos elementos detonadores da chamada Questão Militar, que culminou no golpe de marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889, começou no Piauí, com o coronel Cunha Matos. “Vou contar essa história em detalhes no livro”, promete.
Atualmente, Laurentino está nos Estados Unidos, envolvido com o trabalho de pesquisa para o próximo livro a se chamar 1889. Foi de lá que o escritor respondeu as perguntas da Revestrés, sobre história, literatura e o novo livro-reportagem que vai trazer à tona detalhes sobre a Proclamação da República no Brasil. “Confesso que estou encantado pelas descobertas que fiz até agora”, diz. Para ligar ainda mais a relação do escritor com o Piauí, curiosamente, um dos elementos detonadores da chamada Questão Militar, que culminou no golpe de marechal Deodoro da Fonseca no dia 15 de novembro de 1889, começou no Piauí, com o coronel Cunha Matos. “Vou contar essa história em detalhes no livro”, promete.
Em discurso no senado você afirmou que “A Batalha do Jenipapo é o mais trágico e mais simbólico de todos os conflitos da Guerra da Independência”. Por que se pode afirmar isso?
O que me fascina na Batalha do Jenipapo é mais o seu aspecto simbólico do que militar. Do ponto de vista militar, foi uma grande tragédia humana. Centenas de pessoas perderam a vida em Campo Maior no dia 13 de março de 1823 porque estavam completamente despreparadas para enfrentar a tropa comandada pelo major João José da Cunha Fidié. Entre os combatentes brasileiros, havia sertanejos habituados a pastorear o gado e a enfrentar as dificuldades naturais do clima agreste do sertão, mas, em termos de treinamento e armamento militar, nem de longe se comparavam aos soldados de Fidié. Além disso, havia também um bom número de homens, mulheres e pessoas do povo, que nunca tinha empunhado uma arma. O resultado, como se sabe, foi uma carnificina. O que sobra, portanto, é o lado simbólico: a determinação do povo brasileiro, representada pelos piauienses e cearenses naquele episódio, de lutar por uma independência proclamada lá longe, no Rio de Janeiro. Era a prova de que se tratava de uma luta de todos os brasileiros, e não apenas de uma parte da elite carioca, paulista e mineira, àquela altura descontente com a política de Lisboa.
Você considera que a Batalha do Jenipapo é ignorada no ensino de história no Brasil? A que se deve essa omissão?
Existem duas razões. A primeira está relacionada a um mito poderoso criado durante o império brasileiro, segundo o qual o Brasil é um país pacífico, cordato, capaz de resolver seus conflitos de forma negociada, sem banhos de sangue. É um mito muito forte associado à figura do imperador Pedro II, o pai de todos, que zela pela paz interna, suaviza os conflitos, agrega os diferentes interesses, mantem o território unido sem grandes traumas. O Duque de Caxias, o homem que mais se meteu em confusão na história do Brasil, passou para a posteridade com o título de “O Pacificador”. É, portanto, a personificação desse mito que, entre outras construções, afirma que a independência do Brasil resultou de um processo pacífico de negociação com Portugal. A Batalha do Jenipapo e a guerra da Independência nas regiões Norte e Nordeste desmentem esse mito. Os livros da história oficial ignoram o episódio porque ele perturba a visão que se pretendeu construir a respeito do Brasil. Uma segunda razão é puro e simples preconceito. Existe uma perspectiva etnocêntrica na construção da história brasileira. Por essa versão, os agentes importantes são sempre cariocas, mineiros, paulistas, gaúchos, no máximo baianos e pernambucanos. Os demais brasileiros, especialmente os das províncias e estados menores, como é o caso do Piauí, aparecem como figurantes secundários.
 Você visitou e viu de perto o monumento do Jenipapo, construído no município de Campo Maior, e afirma no livro 1822 que os túmulos estão mal cuidados, perdidos em um matagal e sem identificação. Você acha que a homenagem está à altura dos 200 brasileiros mortos?
Você visitou e viu de perto o monumento do Jenipapo, construído no município de Campo Maior, e afirma no livro 1822 que os túmulos estão mal cuidados, perdidos em um matagal e sem identificação. Você acha que a homenagem está à altura dos 200 brasileiros mortos?
Nas minhas pesquisas tenho visitado lugares históricos em várias regiões do Brasil. A imensa maioria está abandonada, entregue à sujeira e à falta de conservação e identificação. No Recife, por exemplo, encontrei o busto de Frei Caneca no local em que ele foi executado após a Confederação do Equador, perdido num matagal quase inacessível e coberto pelas fezes dos pombos que ali fazem seu pouso noturno. Nesse quadro, a conservação do monumento dedicado aos heróis do Jenipapo até que não é das piores. Mas poderia ser melhor. Há providências simples que podem ajudar muito. Por exemplo, a criação de um bom site de internet que se torne referência no estudo da Batalha do Jenipapo. Talvez fosse o caso de ter no monumento de Campo Maior uma pequena sala de projeção onde os estudantes e os turistas pudessem assistir a um breve documentário em vídeo sobre o confronto. Seria interessante, por fim, organizar um pequeno circuito de caminhada pelo local com textos em placas de acrílico, protegidas das chuvas e da intempérie, explicando em detalhes a história do Jenipapo.
Ainda na sessão do senado você disse que nós, brasileiros, vivemos apenas 26 anos de democracia sem rupturas. É correto afirmar que o país ainda está aprendendo a ser uma democracia?
Essa é a grande novidade no Brasil de hoje. É a primeira vez, em mais de quinhentos anos de história, em que temos o exercício continuado da democracia por tanto tempo, sem rupturas. Nunca antes todos os brasileiros haviam sido chamados a participar da construção nacional por tanto tempo. Isso explica também o interesse renovado que se vê hoje pela História do Brasil e que, de certa forma, se reflete na venda de livros como 1808 e 1822. O estudo de História é uma ferramenta imprescindível nesse trabalho de construção coletiva. Os brasileiros estão olhando o passado em busca de explicações para o país de hoje e como forma de se preparar para a construção do futuro. E a História serve para isso mesmo. A resposta a esse fenômeno exige a soma de esforços entre professores, jornalistas, historiadores acadêmicos, pesquisadores independentes, escritores – ou seja, quem tiver alguma contribuição a dar deve se pronunciar. Os brasileiros estão pedindo isso
Com o sucesso de seus livro-reportagens você virou um escritor consagrado. A sua formação acadêmica é em jornalismo: é melhor ser jornalista ou escritor de Best-sellers?
A essência do meu trabalho é o jornalismo. Ser um escritor best-seller é mera consequência da reportagem bem feita, bem pesquisada e bem apurada. Eu me considero um jornalista-escritor apaixonado por História do Brasil. Minha contribuição ao estudo da História do Brasil é de linguagem. Na pesquisa dos meus livros, eu uso a técnica da reportagem, mas tomo sempre como referência as fontes acadêmicas autorizadas. Ou seja, não tento reinventar a roda nem desautorizar o que os historiadores já produziram na academia. A novidade é que procuro observar os acontecimentos e personagens sob a ótima do jornalismo. O texto é sempre construído com base nas lições que a literatura ensina para capturar e encantar os leitores. Portanto, minha fórmula combina jornalismo e literatura. Procuro usar elementos pitorescos da história para atrair a atenção do leitor. Isso explica, por exemplo, os subtítulos dos dois livros. Esse recurso bem humorado é usado com o propósito de provocar o interesse do leitor, como se faz, por exemplo, num título de capa de revista ou numa manchete de jornal.
Você sofreu alguma discriminação por não ser historiador e escrever livros sobre Historia?
Felizmente, desde que lancei o primeiro livro recebi elogios de vários historiadores que respeito e admiro, como Lilian Moritz Schwarcz, Jean Marcel Carvalho França, Elias Thomé Saliba e Mary Del Priore. Ganhei da Academia Brasileira de Letras o prêmio de Melhor Ensaio de 2008 por indicação do mineiro José Murilo de Carvalho, um dos nossos melhores historiadores atuais. Acredito que essa tão discutida rivalidade entre historiadores acadêmicos e jornalistas é mais aparente do que real. Acho que o jornalismo e a produção acadêmica não são excludentes. Uma área tem muito a aprender com a outra. Historiadores podem ensinar aos jornalistas método e disciplina na pesquisa. Os jornalistas, por sua vez, têm contribuição de linguagem e estilo a dar no ensino e na divulgação do conhecimento da história.
Em seu processo de escrita de um novo livro, como você lida com as fontes, uma vez que os personagens das obras são históricos e póstumos? Como é o processo de pesquisa para construir o livro?
O processo de apuração e fechamento é semelhante ao de uma redação de jornal ou revista, só com prazos mais alongados. O segredo da boa reportagem está no planejamento. Jornalista que não se planeja corre dois riscos opostos: ou trabalha demais ou trabalha de menos. Aprendi isso a duras penas nesses trinta anos de carreira. Ao começar a escrever um novo livro, eu planejo com detalhes todos os passos da pesquisa: quantos e quais livros terei de ler, quem poderá me dar orientação sobre o tema, que lugares visitarei, quanto tempo cada uma dessas etapas do trabalho vai exigir. Pesquiso sempre sozinho, sem equipe de apoio. Só assim é possível encontrar aquela “pepita” que pode mudar todo o curso de um capítulo ou mesmo do livro. É preciso ler muito, consultar documentos, confrontar diferentes fontes de informação na tentativa de chegar o mais próximo possível da verdade. Além disso, não me limito a pesquisar os livros e fontes tradicionais. Vou aos locais dos acontecimentos para mostrar como estão hoje. Preocupo-me em atualizar valores da época, fazer comparações e dar exemplos bastante didáticos. Tudo para facilitar a compreensão do leitor.
(Entrevista originalmente publicada na Revestrés#02, publicada em maio/junho de 2012).
☎ Assine e receba em qualquer lugar do Brasil: www.revistarevestres.com.br ou (86) 3011-2420
💰 Ajude Revestrés a continuar produzindo jornalismo independente:catarse.me/apoierevestres



 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack