Belonísia e Bibiana são duas irmãs de uma família de trabalhadores rurais cuja infância é marcada por um fato que as unirá para sempre. O cenário é a a Chapada Diamantina, mais precisamente a fictícia Água Negra, simbolizando as comunidades do interior da Bahia. Este é o enredo de Torto arado (Todavia, 2019) livro do autor baiano Itamar Vieira Junior, 42, que arrematou os maiores prêmios literários nos últimos dois anos.
O romance acompanha a trajetória de uma família que vive do trabalho na terra – embora não tenha direito a ela, a não ser a autorização para fazer morada em casas de barro e plantar roçados, não sem ver os frutos do suor desse trabalho serem confiscados por capatazes a mando dos fazendeiros – estes sim, os verdadeiros donos da terra.

Itamar Vieira Junior: romance levou os principais prêmios literários
Ao costurar esse enredo, Itamar aborda a crescente conscientização política da comunidade, a ancestralidade da cultura negra e põe em xeque as estruturas de poder que marcam a desigualdade social no país. O surpreendente – ou não – é que, ao abordar uma trama aparentemente regional, o escritor abocanhou elogios da crítica global, que destacou a solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e, é claro, a ênfase nas figuras femininas que expressam liberdade mesmo diante da violência exercida sobre seus corpos num contexto dominado pela sociedade patriarcal.
“Eu queria contar essa história que é atravessada por tudo que acontece em nosso país, pelo racismo estrutural, pela violência no campo, pelas disputas de poder que ainda são tão marcantes”
“Eu queria apenas retratar uma realidade que eu conhecia muito bem”, diz Itamar em conversa com Revestrés por telefone. “A própria origem do meu pai, que foi criado em uma comunidade no campo. Essas histórias faziam parte da memória afetiva da minha família, eram as histórias que me contavam”, continua, sem parecer ter visado a repercussão que a obra teria. O Prêmio LeYa de Romance, o primeiro que arrematou em 2018, seleciona autores lusófonos que concorrem anonimamente a € 100 mil e um contrato de publicação com a editora do grupo. Itamar é o segundo brasileiro a levar o prêmio em dez anos (O primeiro foi Murilo Carvalho, com o romance “O rastro do jaguar”, em 2008).
Foi surpresa para o escritor que inscreveu-se com um pseudônimo neutro – os avaliadores não tinham como saber se tratava-se de um escritor ou escritora. A ideia era que o gênero do autor não influenciasse na escolha do júri. “Eu queria que o livro fosse julgado pelos seus méritos, que a história vencesse”.
Na sequência vieram os prêmios Oceanos (2020) e Jabuti (2021) e o analista agrário do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e geógrafo por formação teve que dividir as horas de trabalho pelo interior do Nordeste com os telefonemas para entrevistas e palestras que pipocaram no mundo virtual. “Há mais de dois anos eu falo desse livro sem parar”, diz sorrindo ao telefone. E, sem cansar, fala mais um pouco: “Tenho que escrever outro para mudar o assunto”.
Você ganhou o prêmio LeYa antes da publicação do livro no Brasil. Qual a importância que uma premiação literária tem na vida de um autor?
O livro foi publicado porque venceu o prêmio LeYa, que é um prêmio de Portugal voltado para a comunidade de língua portuguesa. É tudo muito difícil nesse campo mas, o importante é que eu escrevi sem pensar nos prêmios. Eu só submeti ao prêmio LeYa porque eu não tinha uma editora nem sabia como publicar esse livro – apesar de já ter publicado dois antes, mas foram por editoras pequenas. Aproveitei a oportunidade e enviei. Para mim foi uma surpresa vencer o LeYa e isso sem dúvidas ajudou o livro a ser conhecido e divulgado.
Já há alguma proposta para adaptação de Torto arado para a TV, cinema ou streaming?
Sim. Já tem um ano mais ou menos que os direitos foram vendidos para adaptação, para o diretor Heitor Dhália, de Pernambuco – ele já fez adaptações de obras literárias como “O cheiro do ralo”, dirigiu “Serra Pelada” e a série “Arcanjo renegado”, que está atualmente na Globo. Mas como é um ano de muitas paralisações e esse setor do audiovisual foi um dos mais afetados, tudo caminha lentamente.
“A gente precisa recuperar a capacidade de debate e de se contrapor a ideia do outro discutindo de forma saudável para que isso gere conhecimento”
Além de escrever, você é geógrafo, pesquisador e servidor público do Incra. A carreira de escritor nunca foi exatamente um plano? Ou tem a ver com as condições que o nosso país dá para o trabalho intelectual?
Eu acho que as duas coisas. Primeiro eu nunca fui encorajado por meus pais a seguir carreira como artista, principalmente porque eles são pessoas que vieram de uma família simples, queriam que eu fosse pragmático. Acho que quando pensaram que eu seria escritor, me estimularam a seguir outros caminhos – embora eles sempre atendessem aos meus desejos, quando podiam, me davam livros. Meu pai chegou a me dar uma máquina de escrever quando eu tinha 11 anos e eu recordo que nem foi algo que eu pedi, mas ganhei dele e de minha mãe de presente.
A crítica atribui o sucesso de Torto Arado ao fato de ter uma temática universal (a terra). Mas, ao mesmo tempo há particularidades (expressões e costumes) muito regionais. Como foi para você abordar isso sem cair em estereótipos ou reforçar estigmas sobre o Nordeste?
O que eu queria era contar uma história e para mim essa questão do regional, do regionalismo não era tocante. Para falar a verdade, eu nem acredito muito nesse termo. Para mim isso é algo da crítica, da academia, do Sul e Sudeste para nomear tudo aquilo que não é realizado no centro que eles consideram. Eu falo a partir do meu centro e isso para mim estava muito resolvido. Eu nunca considerei que estivesse escrevendo um livro com temática regionalista. Eu queria contar uma história de um país ainda pouco conhecido por muitos, que permitisse imaginar como vive a população do campo até os dias de hoje. Eu acompanho esse debate mas pouco posso ajudar nessa compreensão, a não ser dizendo o que pensei quando escrevi. É claro que o livro é atravessado por questões que a gente pode considerar universais como: o direito à terra, o direito à liberdade, o direito à vida. São temas recorrentes na literatura como um todo, desde sempre. E se tem esses elementos que consideram regionais, nada mais é do que o retrato de uma realidade que existe no nosso país.
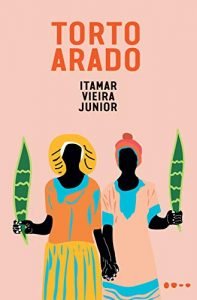 Como foi para você encarnar as personagens femininas?
Como foi para você encarnar as personagens femininas?
Acho que as mulheres da minha família e as mulheres que encontrei no meu caminho foram inspiração. Para mim só faria sentido escrever se realmente representasse um desafio. Um desafio como autor de escrever uma história saindo desse meu lugar confortável de homem, classe média, para falar de personagens que vivem histórias hoje distintas da minha. Embora eu possa pensar nos meus antepassados que tinham histórias muito parecidas como essa do romance. Eu preciso sair dessa minha zona de conforto para escrever. Como a literatura é o terreno da liberdade, onde a gente vive a vida do outro, a gente se torna o outro, para mim será sempre um desafio escrever sobre qualquer personagem. Até porque todos eles se afastam, de imediato, da minha vida atual. E, claro, escrever a partir do ponto de vista das personagens mulheres foi um desafio. Eu só tive certeza de que tive êxito quando o livro venceu o prêmio Leya – porque a gente concorre de forma anônima e eu escolhi um pseudônimo neutro, eu não queria que isso influenciasse na decisão. Eu queria que o livro fosse julgado pelos seus méritos, que a história vencesse. E no momento da divulgação, quando o júri deu entrevista, eles revelaram que não sabiam se o livro tinha sido escrito por um homem ou uma mulher. Eles ficaram com a dúvida até o fim e eu achei isso bem interessante porque era o estranhamento que eu queria provocar.
É impossível ler o seu livro sem fazer associações com as discussões político-sociais atuais – a luta por direitos, o líder comunitário e a difamação de sua imagem, etc. Foi uma maneira que você achou de tocar nesses assuntos através da ficção?
Toda literatura por mais fabulosa, criativa, fantástica ou absurda que possa parecer, contadas a partir da perspectiva do absurdo, de coisas que a gente não veria na vida real, serve como metáfora para entender o nosso mundo, os processos que permeiam ele. Eu queria contar essa história que, é claro, é atravessada por tudo que acontece em nosso país, por todas as questões, pelo racismo estrutural, pela violência no campo, pelas disputas de poder que existem e ainda são tão marcantes no nosso país. Inevitavelmente a história é atravessada por isso tudo também. Durante esses 15 anos que eu trabalho com a população do campo, vi muitas histórias de violência, disputas por território e isso de alguma forma eu sei que é muito presente no campo brasileiro. É claro que, como é uma história que faz um recorte de um determinado canto do Brasil, inevitavelmente isso seria contado.
Você afirmou em entrevistas que, quanto mais um personagem é complexo, mais ele se aproxima da perfeição. Você acha que este momento que estamos vivendo do “cancelamento” e das discussões afloradas na internet que levam a gente para um lugar maniqueísta, do certo ou errado, do bem ou do mal, do bom ou ruim, acabam refletindo em uma sociedade mais intolerante? Tem a ver com não estarmos mais nos dedicando a entender a complexidade de pessoas e também personagens?
Eu acho que sim. É o momento que a gente vive no mundo. Esse mundo em rede, esse encontro que as redes sociais proporcionaram terminou colocando questões que são intrinsicamente complexas da humanidade de maneira simplista. Imagine que as pessoas tentam explicar um tema, um assunto, num tweet de 240 caracteres – não sei se é isso, eu não uso Twitter (sorrir). Para você explicar de uma maneira tão condensada, só simplificando. E aí as pessoas foram simplificando demais nesse espectro. Acho que esquecem dessa complexidade que todos nós carregamos. Não somos bons nem maus, somos humanos. Acho que a gente precisa recuperar essa dimensão, tentar recuperar tanta coisa que talvez estejamos perdendo… mas isso também não quer dizer que a gente deva fazer concessões com coisas que marcam a nossa trajetória enquanto sociedade. Não devemos fazer concessões ao racismo, a todas as formas de preconceito – a gente precisa atuar para que isso seja diminuído, mas da mesma forma a gente não pode voltar ao passado para tratar de questões que não estavam na pauta naquele momento e condenar as pessoas por isso. A gente precisa ter a dimensão de que todos erram e de que todos podem se redimir do seu erro. Isso é muito importante.
Eu posso escrever um texto, por exemplo, que eu considere bacana mas que eu adentre numa discussão que talvez não seja a minha – uma discussão por exemplo sobre os direitos das mulheres. E aí eu posso errar ou falar uma bobagem, mas isso não é motivo para alguém me cancelar. Eu acho que a gente precisa recuperar a capacidade de debate e de se contrapor a ideia do outro discutindo de forma saudável para que isso gere conhecimento. Estamos perdendo um pouco essa capacidade, mas espero que isso seja algo momentâneo.
Você também disse que foi muito influenciado pela geração de autores de 30/45. O que você apontaria de especial na literatura dessa época?
Eu não fiz muitas escolhas de leitura. Eu era apresentado a literatura por meus professores. Eu não convivia em comunidades de leitores. A minha leitura era sempre por intuição ou indicação da escola, naquele formato tradicional do ensino da disciplina e aqueles livros que já eram considerados parte do cânone da nossa literatura. Então foi por isso que eu li esses autores. Hoje eu fico pensando, se eu não tivesse lido tão cedo e se isso me fosse apresentado agora, eu leria com o mesmo interesse. Alguns deles eu volto e releio porque eu gosto de reler para estudar.
Aí a gente entra na recente polêmica na internet, onde o Felipe Neto (youtuber) disse que Machado de Assis não deveria ser lido nas escolas…
Só não podem cancelar o Felipe Neto por isso. (risos)
Mas você concorda?
Eu não concordo com ele. Mas eu acho que também, do jeito que está – só lendo autores consagrados que fazem parte do cânone – a gente limita muito a possibilidade de formação de leitores. Porque são obras que, embora tenham cunho universal e façam parte da história literária, e para mim sejam muito interessantes, são livros que não se esgotam – eu acho que é preciso também intercalar essas leituras com produção contemporânea, para que os alunos não pensem que a literatura é algo histórico, datado e alienado da realidade de hoje. Ele precisa ter contato com tudo. Mas eu li Machado de Assis com 11, 12 anos e não foi por indicação de ninguém. Meus pais não eram leitores, acho que nunca leram Machado. Mas tínhamos uma enciclopédia em casa e eu era um leitor voraz porque não tínhamos muitos livros. Quando eu descobria os autores, eu procurava – era sócio de bibliotecas públicas, da biblioteca da escola. E eu fiz a leitura de quase todos os livros do Machado nessa idade. E se você me perguntar o que eu achei, se eu tinha realmente a idade o que posso dizer a você é que eu entendia perfeitamente o que ele dizia, eu sabia que se tratava de um tempo, de uma época, e eram histórias cativantes, que me cativaram desde o começo – senão eu não teria lido tantos livros, não só dele como de outros autores como José de Alencar, Eça de Queiroz, enfim. Eu lia esses autores do século XIX com muito interesse, eram livros que realmente eu gostava. E isso não me prejudicou como leitor, pelo contrário. Hoje eu leio mais literatura contemporânea porque eu já fiz muito esse percurso da literatura clássica.
“A literatura dele (Monteiro Lobato) foi escrita em um tempo e isso tudo é importante para que a gente entenda até os processos de violência pelos quais o Brasil passou e ainda passa”.
Recentemente você também escreveu para a revista Piauí sobre o racismo na obra de Monteiro Lobato….
Sim, e para mim também, longe de cancelar o Monteiro Lobato, a gente precisa discutir a obra dele dentro da história desse país. E a literatura dele foi escrita em um tempo e isso tudo é importante para que a gente entenda até os processos de violência pelos quais o Brasil passou e ainda passa. Às vezes releio livros que li há 15, 20 anos. Volto a leitura de um livro que me marcou muito e já leio a segunda vez estudando o que me capturou, qual a estrutura, como são as personagens. O que tem de tão cativante que me capturou como leitor? E termina que a gente atualiza o que vem sendo debatido no momento. No caso do Monteiro Lobato é inegável que a obra dele tenha passagens e estrutura racista. Mas ele é um homem que não pode ser reduzido simplesmente ao espectro racista – esse era um dado sobre a formação dele, mas ele foi o homem que editou um autor negro que ninguém queria publicar, o Lima Barreto. O Monteiro Lobato também defendeu os interesses do país. Ou seja, é uma personalidade complexa. Longe de censurar o autor, a gente tem que discutir a sua obra. Assim como daqui a 100 anos as pessoas podem discutir obras que estão sendo escritas no nosso tempo trazendo questões que não são relevantes pra gente hoje.
Nesse texto você também cita que foi importante assumir sua raça como negro-indígena. O que muda depois que você assume essa identidade?
Isso para mim é uma construção de identidade. Nenhum de nós nasce com uma identidade pronta, a gente vai se identificando ao longo da vida, vai construindo. A medida que a gente vai conhecendo a nossa própria história, o nosso próprio passado, vamos reconhecendo o nosso lugar na sociedade, e essa identificação vai sendo acrescida. Para mim a mudança é muito sutil, tá no campo pessoal. Eu não mudo a estrutura racista do país, talvez eu não mude muita coisa – seria muita pretensão minha achar isso, mas eu acho que é um resgate histórico, de vida. Faz mais sentido na minha dimensão pessoal. Talvez os efeitos disso sejam sentidos daqui algumas gerações quando meus descendentes ou a minha família que vai continuar e olhar para trás e dizer: olha, a partir desse ponto assumimos a nossa história. Mas não tem, agora, grande repercussão social. Acho que está numa dimensão pessoal mesmo.
ALERTA: PERGUNTAS SPOILERS – prossiga se já tiver lido Torto Arado
Por que a Belonísia não volta pra casa após ficar viúva? Um destino mais comum para as mulheres sertanejas em situação de pobreza…
Eu acho que ela tinha conquistado a independência dela, a liberdade. Talvez vontade de continuar a vida, de permanecer ali próxima a Maria Cabocla por quem ela tinha um sentimento forte, talvez. Acho que por isso. Tô tentando explicar o que ela fez, mas não sei a medida correta disso.
Há uma certa insinuação de uma atração entra Belonísia e Maria Cabocla?
Pelo que eu conheço da história há algo que talvez a gente não possa nomear de uma maneira muito específica porque acho que nem elas sabiam ali, de fato. Imagine para uma mulher camponesa, que vive numa sociedade extremamente rígida, machista e patriarcal, cultivar esse sentimento? Elas só sentiam. Mas há sim um sentimento que vai além da solidariedade, da amizade. Há um afeto importante entre elas. Outros leitores já fizeram essa associação também, até o pessoal fala… uma fanfic? (risos) Tem que ter uma continuação só com a Belonísia e a Maria Cabocla!
—
☎ Compre edições avulsas e receba em qualquer lugar do Brasil: www.revistarevestres.com.br
LEIA AQUI A REVESTRÉS#47 COMPLETA
BAIXE AQUI A REVESTRÉS#47 EM PDF
💰 Ajude Revestrés a continuar produzindo jornalismo independente. Apoie nossa campanha no Catarse, a partir de R$ 10,00 (dez reais): catarse.me/apoierevestres




 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack