Texto e edição: Samária Andrade | Fotos: Maurício Pokemon | Participaram desta entrevista: André Gonçalves, Maurício Pokemon, Wellington Soares, Samária Andrade e Ana Carolina Magalhães Fortes.
Quando Francis foi embora de Garamá tinha apenas nove anos de idade. Nunca mais voltou a morar na pequena aldeia de Serra Leoa, que tinha então 200 habitantes, mas também nunca se desligou de lá. Passados 60 anos, Garamá hoje soma 500 moradores. “Quando eu chego visito todas as casas em três horas”, diz o professor de sorriso leve e até hoje um forte sotaque. Em suas camisas coloridas, Francis Musa Boakari, 69 anos, não passa despercebido nos corredores da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), onde dá aulas na pós-graduação em Educação. É apontado como professor exigente, mas afetuoso. Também se cochicha uma curiosidade por ali: ele seria príncipe em sua terra natal! Mas esse não é um assunto que lhe agrade: “Lá eu sou Musa e aqui sou professor Francis. Só isso” – diz em sua fala mais séria nesta entrevista, explicando que temos um entendimento diferente do que seja um rei: “Culpa dos europeus, que distorceram a noção de autoridade.”
O menino que saiu de casa para estudar numa cidade maior, ainda em Serra Leoa, já adolescente migrou para os Estados Unidos, novamente em busca de estudos. Tinha planos de voltar, o que até hoje não aconteceu. Quando achou que o faria, Serra Leoa entrava numa guerra civil que devastaria o país. Sua aldeia foi atingida e a família passou anos andando de um lado a outro, em busca de segurança.
A guerra civil de Serra Leoa durou 11 anos, entre 1991 a 2002, e resultou na morte de aproximadamente 50 mil pessoas e no deslocamento de mais de um terço da população: cerca de dois milhões de pessoas. O conflito foi tão violento que muitos dos que ficaram tiveram braços decepados, como ação inibidora para evitar que votassem. À frente da guerra civil, um ex-militar que assumiu funções milicianas. Atualmente a situação do país se encontra estabilizada. A guerra civil teve como pano de fundo a briga pela posse de minas de diamantes. Essa história está no filme Diamante de Sangue (2006), protagonizado por Leonardo di Caprio. A expressão “diamante de sangue” é usada para se referir a pedra preciosa extraída em uma zona de guerra. Apesar da riqueza natural, 70% da população do país vive em situação de extrema pobreza.
Com cerca de 16 grupos étnicos, cada um com sua língua oficial e seus dialetos tribais, Serra Leoa foi primeiro explorada por portugueses e depois colonizada por ingleses, que expulsaram os portugueses. Nessa época o país se tornou um importante centro de comércio transatlântico de escravizados e o idioma inglês foi imposto como oficial, mas as línguas originais nunca deixaram de ser faladas. Francis carrega até hoje as dores da colonização, mas é com bom humor e ironia que conta sobre o percurso que faz anualmente quando volta a sua aldeia: “Primeiro o avião para em Lisboa – eu tenho que marcar presença. De Lisboa vou para Londres – marco outra presença (risos). De Londres vou para Freetown (Cidade da liberdade), capital de Serra Leoa. De lá pego um ônibus e cerca de 10 horas depois estou em Garamá”. É também com humor que ele completa: “Acho que no período que chamavam pré-história bastava pegar uma canoa e ir de um continente a outro, né?”.
Entre idas e vindas ao Brasil, Francis teve toda a sua formação acadêmica nos Estados Unidos: graduação em Estudos Religiosos pela University of Ibadan (1975) e em Ciências Sociais pela University of Iowa (1979). Depois Mestrado em Psicologia da Educação (1981) e Doutorado em Sociologia da Educação pela University of Iowa (1983). Também fez Pós-Doutoramento em Educação para a Diversidade na Auburn University (1996). Na universidade americana ainda conheceu a cearense Salete, com que se casou e tem duas filhas. Salete está entre os professores fundadores da Ufpi e possui Ph.D. em Educação na University of Iowa (1981). Quando o casal resolveu retornar ao Brasil, se estabeleceu primeiro em Brasília, depois voltando ao Piauí. O professor Francis ainda deu aula no curso de Sociologia da Uespi(Universidade Estadual do Piauí), onde recebeu o título de Professor Fundador, em reconhecimento as contribuições.
Em Garamá ficaram familiares e é para lá que Francis está sempre voltando, contribuindo com o que pode, como financiando estudos de jovens. É o que aprendeu com o ubuntu, em sua língua Mendê “ngoh yiilei”, e que pode ser traduzido como responsabilidade com o outro. Ele explica: a ajuda deve ser de mão dupla, logo se trata de co-responsabilidade.
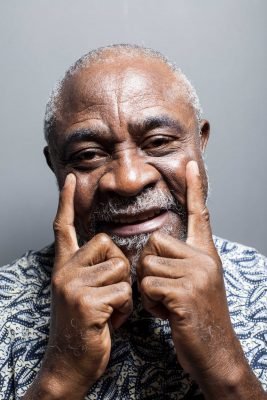
Foto: Maurício Pokemon
A experiência aprendida e partilhada em sua aldeia é comum em todo o país. Um estudo sobre a generosidade no mundo, que avalia o grau de envolvimento das populações em ações de caridade, coloca Serra Leoa como o país mais generoso da África e o 11º do mundo. O índice leva em conta três aspectos: o trabalho voluntário, a doação de dinheiro para organizações e a ajuda a pessoas estranhas. Neste mesmo ranking o Brasil aparece em 76º lugar no mundo, ficando atrás de 15 países na América Latina (a pesquisa foi aplicada pelo Instituto Gallup em 153 países sob solicitação da ONG Charities Aid Foundation, que criou o Índice da Generosidade Mundial).
Na aventura de voltar a Garamá, Francis somente conquistou a companhia da família uma única vez, há cerca de 30 anos. As filhas Biá, jornalista, e Yatta, veterinária, que carregam nomes Mendê (significando “Quando você for” e “Graça de Deus”, respectivamente) e a esposa Salete, acharam tudo muito diferente na aldeia de Francis. “Eu era bem pequena e me diverti muito”, lembra Biá, “tinha muitas crianças e fizemos trancinhas nos cabelos”. Ela também registrou o estranhamento que tiveram com o fato de comerem todos juntos num grande galpão ou a falta de cerimônia dos conterrâneos de seu pai ao pegarem e usarem as roupas que elas levaram para si: “lá era tudo comunitário”.
Para discutir suas ideias, nos contar sobre sua gente e nos fazer aquilatar nossos estranhamentos, o professor Francis nos recebe em sua sala na Ufpi. Nas paredes, cartazes de eventos da universidade e um quadro com estampa colorida: “Foi um tecido africano que comprei e coloquei na moldura”, conta.
Além da equipe da revista, levamos perguntas elaboradas por Ana Carolina Magalhães Fortes, advogada e defensora de causas sociais, sua ex-orientanda no mestrado em educação. “Ah, eu quero pedir desculpas a Ana”- nos surpreende o professor. Ao longo da conversa ele nos fala da importância de uma pedagogia que questione, nos provoca perguntas, expõe seus próprios equívocos e ensina: estamos aprendendo todo dia. “Eu dizia para minhas filhas quando crianças: é a primeira vez que sou pai de uma menina de oito e uma de dez anos, então estamos aprendendo juntos”.

Foto: Maurício Pokemon
***
Samária – O Brasil e o mundo têm experimentado uma deriva à direita e contrária aos direitos humanos. É possível avaliar como chegamos a esse ponto?
Francis Musa Boakari – A eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, mostra que o mundo não está pronto para as mudanças que acontecem esporadicamente. No Brasil, o pior ainda não aconteceu, mas o fato de que pode acontecer, já mostra uma insegurança muito grande e nós vamos ter que rezar muito. Em várias partes da Europa também temos retrocessos e violação de direitos humanos. Isso mostra que nós não aprendemos muito com a Segunda Guerra Mundial. Temos uma prática de não escutar a história. Acho que o 11 de setembro foi como um alerta e nós não prestamos muita atenção. Esse é um cenário que dá muito medo.
André – Estamos no meio de um processo eleitoral que algumas análises colocam como o mais acirrado que já tivemos (a entrevista foi feita uma semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018). Ainda não sabemos o resultado concreto desse pleito, mas percebemos que há algo acontecendo. Chama a atenção o fato de que na universidade, espaço de conhecimento e predominantemente jovem, essa deriva contra os direitos humanos e um viés preconceituoso também se verificam. Existe algum erro de finalidade que esteja levando a isso?
Eu acho que está exatamente na hora de escutarmos as pessoas que não estão fazendo leituras otimistas do mundo.
FMB – Mesmo na universidade há uma resistência ao pensamento crítico e uma preferência pelos diagnósticos positivos. Eu acho que está exatamente na hora de escutarmos as pessoas que não estão fazendo leituras otimistas do mundo. O conhecimento dos livros muitas vezes tem pouco a ver com o conhecimento da vida. As vezes a pessoa tem vários títulos acadêmicos, mas seu modo de ver o mundo é retrógrado. Temos colegas desse tipo na universidade. A questão é que nós queremos ver o ser humano como racional e por isso sofremos quando chegamos a algumas análises. Isso mostra que esse ser, que nós gostamos de analisar, não é tão bom assim – essa talvez seja a grande surpresa e a decepção que abala a gente.
Samária – As nossas universidades são espaços de pesquisa. Esses estudos não conseguiram detectar que estaria havendo alguma “falha no sistema”?
FMB – O que eu aprendi, trabalhando com alunos asiáticos, é que para entender o que os estudantes estão apreendendo devo pedir que elaborem perguntas. As perguntas são mais úteis que as respostas, entende? No Brasil a gente pede que o aluno leia o texto e responda as perguntas que nós elaboramos. Na Ásia, pede-se que os alunos elaborem as perguntas – a pedagogia é baseada no questionamento. No Brasil, a ausência da prática de questionar faz com que nossas análises terminem sendo superficiais. E muitas questões que nós colocamos nas pesquisas encontram só o que nós queremos ouvir. Muitos estudos também são financiados por agências de pesquisa que têm interesse nos resultados e isso influencia todo o processo.
Wellington – A Universidade é baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Nossas universidades têm conseguido cumprir esse modelo de modo satisfatório?
FMB – A ênfase está na pesquisa e no ensino. A extensão exige recursos e isso é um problema em nosso contexto. Em alguns países a extensão se alia com empresas e isso pode possibilitar atividades com mais eficiência. Há também uma questão de consciência e responsabilidade social. Nos Estados Unidos as associações de ex-alunos dão grande apoio às universidades. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Os estudantes brasileiros se formam na universidade pública e simplesmente se desligam, não querem mais saber, pensam que a educação é uma responsabilidade somente do Estado.
Wellington – Sendo professor há tanto tempo de uma universidade pública e acompanhando algumas mudanças no acesso ao ensino superior, você percebe mudanças no alunado? O que podemos observar?
FMB – Acho que há 30 anos tínhamos alguns grupos de alunos: os que entravam e realmente queriam aprender, os que entravam só para conseguir o diploma, e os que entravam e não tinham nada a ver com nada, no máximo queriam comer no restaurante universitário. Continuamos tendo o aluno que entra querendo aprender, mas percebo uma dificuldade que vem de uma formação piorada no ensino médio público. Mesmo nos cursos de pós-graduação encontramos problemas como pouca maturidade acadêmica e questões básicas de redação que já deveriam estar superadas. Esse grupo dos que entram querendo fazer alguma coisa, diminuiu bastante, enquanto aumentou o grupo dos que estão meio perdidos, se procurando. Agora, é melhor que essas pessoas estejam aqui do que não vir para cá e virar aqueles que nem estudam nem trabalham, né? Eu me pergunto: que tipo de prioridade temos estabelecido na sociedade que temos? As minhas filhas não precisam estudar, não precisam trabalhar, porque os pais têm o sustento. Elas não sabem o que é fome! Ninguém me dizia duas vezes para estudar, eu tinha que estudar (fala com ênfase). Eu voltava para casa, em minha aldeia, e via as condições que nós tínhamos e pensava: não pode continuar desse jeito… (pausa). Nós precisamos fazer alguma coisa diferente, porque nossos filhos têm que entender a responsabilidade deles e têm que se interessar por isso. Não sei como vamos fazer, mas precisamos fazer com que os estudantes comecem a ler o mundo de uma outra maneira, onde todo mundo tem que contribuir com alguma coisa.
Eu tentei descrever o que é fome e as pessoas não conseguiam compreender. Só consegue entender a fome quem já passou fome.
Samária – Você chegou a passar fome?
FMB – Sim (pausa). Eu só entendi isso quando fiz pós-doutorado nos Estados Unidos e nós passamos um semestre inteiro trabalhando o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Lá eu tentei descrever o que é fome e as pessoas não conseguiam compreender, porque elas vocalizam, mas até a escolha das palavras, os exemplos, não têm nada a ver com a realidade. Só consegue entender a fome quem já passou fome (pausa). Não falo da fome cultural, aquela que “meu almoço atrasou e eu fiquei com fome, porque tenho o hábito de almoçar 12h30”. Falo da fome que você não sabe “se” vai comer. Não estou dizendo que as pessoas precisam passar fome, mas que precisamos oferecer outro tipo de educação aos nossos alunos. O professor Marcílio Rangel, do Dom Barreto, dizia que estudar é difícil e por isso a instituição tem que fazer de tudo para incentivar o estudante. Ele incentivava, mas também cobrava. E estava certo. A nossa sociedade está com medo de dar mais responsabilidades à juventude. O que estou querendo dizer é: não temos respostas fáceis, nem soluções fáceis, mas nós precisamos examinar um pouco melhor o jeito como temos feito as coisas, especialmente a educação escolar.
André – A universidade tem pensado nisso de forma mais efetiva?
FMB – Nas grandes universidades do mundo, sim, e elas terminam dando diretivas de como devemos trabalhar. Nas nossas universidades menores ainda temos que resolver o problema da luz que queimou, da falta de papel higiênico no banheiro, e fica complicado pensar nas questões macro quando você tem que tratar das pequenas questões. Acho que nosso desafio é não procurar culpados, mas tentar entender o que está acontecendo. Quando você procura culpados, tira a responsabilidade de si e essa responsabilidade tem que voltar para a universidade, para todos os professores, para técnicos, estudantes – todos! O que significa uma universidade pública no Piauí? O que é a Universidade Federal (Ufpi)? O que é a Universidade Estadual (Uespi)? Temos alunos de graduação e de pós-graduação, de todos os cursos, que não se sentem adequados à universidade, não se sentem bem aqui (fala lamentando). Isso acontece em todas as universidades do país. E a Universidade está ciente dessa situação? Se não formos capazes de perceber o que está acontecendo embaixo do nosso próprio nariz, vai ficar um pouco complicado.
Samária – Você tem uma longa carreira acadêmica, especialmente estudando a educação, num país que é racista e onde muitas vezes o negro é bem aceito em algumas áreas como nos esportes e na música. Você sentiu ou sente preconceito na academia?
FMB – Uau! (pausa). Eu sinto, senti e vou continuar sentindo (fala pausadamente), porque nós não falamos sobre essa questão. No curso de pós-graduação em Educação nós tínhamos quatro matérias que discutiam racismo, discriminação, questões de gênero e homoafetividade. Ocorreu uma reforma no currículo e retiraram essas quatro disciplinas. De 2014 até 2017 eu entrei com não sei quantos processos tentando devolver essas matérias para a pós-graduação. Porque nós não temos saída: vamos ter que discutir os diferentes. Aqui no CCE (Centro de Ciências da Educação), onde a maioria é de mulheres, eu pergunto: qual o grupo que sempre foi o mais discriminado, excluído e violentado no mundo em todos os tempos? As pessoas me dizem: os afrodescendentes. Não! São as mulheres! (fala com ênfase). Se as pessoas não sabem essa resposta significa que não estamos falando sobre essas questões, porque a nossa cultura silencia muitos temas. Eu acho que também precisamos mudar a linguagem que utilizamos para falar sobre isso. A questão não é dos afrodescendentes, das mulheres, dos homossexuais – é da sociedade brasileira. Se você diz: vamos falar sobre afrodescendentes, quem vai aparecer para discutir? Só os afrodescendentes. Nós precisamos chegar a um ponto onde todos se sintam parte do problema, porque racismo não é um problema somente das vítimas. Sobre as disciplinas excluídas do nosso currículo eu pergunto: nós não temos professores capacitados para tratar essas questões ou não estamos interessados em trabalhar esses temas? Racismo é um problema, machismo é um problema, homofobia é um problema e precisamos criar oportunidades para falar mais sobre esses temas envolvendo a todos. Eu acho a Parada da Diversidade uma ação pedagógica, porque envolve todo mundo (atividade promovida anualmente em algumas cidades brasileiras a princípio em defesa de causas LGBTI e alargando para causas de pluralidade e diferentes. Em Teresina é realizada pelo Grupo Matizes e chegou a sua 17ª edição em 2018). Eles pegam uma seção transversal da população: ao invés de uma só questão, tratam da “di-ver-si-da-de”, aí incluem pautas de várias identidades. Nós precisamos falar das desigualdades, das discriminações, não só para mulheres ou afrodescendentes, mas para a sociedade brasileira.
Ana Carolina – Há algum tempo encontrávamos uma dificuldade maior em acessar produções de mulheres negras. Hoje, autoras como Maya Angelou, Chimamanda Adichie, Angela Davis e Conceição Evaristo estão nas prateleiras das livrarias. Dos 10 livros mais vendidos na FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) de 2018, o segundo e terceiro lugar são de Djamila Ribeiro (O que é lugar de fala?, Editora Letramento, e Quem tem medo do feminismo negro?, Companhia das Letras). Podemos pensar que o silenciamento histórico dessas mulheres e de sua cultura ancestral vem sendo quebrado no Brasil?
FMB – De um lado sim, mas quando você leva em conta que a população afrodescendente é mais de 50 % da população, a venda dessas produções tem uma assimetria muito grande. Mas pelo menos a produção está acontecendo. Temos que pensar também o outro lado: o consumo. Temos que incentivar leitores a aproveitarem essa literatura – essa é uma tarefa que ainda precisa ser enfatizada, porque não adianta produzir se não tiver consumo adequado.
As cotas mostram uma coisa: o estado brasileiro reconheceu a existência do racismo.
Ana Carolina – Mais de 46% dos candidatos de 2018 são negros, contra 44,3% em 2014, primeira eleição em que a cor da pele foi identificada no sistema de candidaturas. Hoje, na Câmara Federal, a representação da população afrobrasileira é feita por 43 deputados, em um total de 513. No Senado Federal, dos seus 81 integrantes, apenas dois se declaram negros ou pardos. Há 13 candidatos à Presidência da República, e, dentre eles, há duas mulheres negras. Qual sua perspectiva em relação à construção de uma democracia racial no país, analisando essa sub-representatividade da população negra no Legislativo e Executivo, embora o número de candidaturas venha crescendo no último pleito?
FMB – Nos anos 80 você andava pelos corredores do CCHL (Centro de Ciências Humanas e Letras) e podia contar os afrodescendentes nos dedos de uma mão. Hoje temos outra universidade. A representatividade da população leva tempo. Eu me pergunto: esse momento que vivemos, com mais mulheres e afrodescendentes, é mesmo verdadeiro ou só uma onda? As pessoas realmente acreditam que vivemos um racismo cordial e está tudo bem? Porque racismo cordial é assim: “Você conhece professor Francis?”, “Conheço, fantástico!”; “Você gostaria que ele fosse chefe de departamento?”, “Ah, isso é outra questão”. Como acompanho essa situação há anos, bato palmas para as mudanças e minha oração é que a representatividade continue crescendo. Marina (Rede) e Vera (PSTU) não devem vencer as eleições, mas o fato de estarem presente já diz muita coisa. Mas eu quero saber é se essas mudanças são de fato substanciais.
André – Qual sua posição a respeito das cotas nas universidades?
FMB – Tenho três ponderações. Primeiro: as cotas não começaram com os afrodescendentes, começaram com os imigrantes europeus que chegaram aqui. Quando nós esquecemos essa história, descontextualizamos toda a discussão sobre as cotas. Segundo: as cotas não são para os afrodescendentes, são para os brasileiros que não têm tido as mesmas condições que outros brasileiros. E terceiro: as cotas mostram uma coisa: o estado brasileiro reconheceu a existência do racismo. Eu sou a favor das cotas, mas isso não tem mais que ser discutido, as cotas são uma lei, e sendo lei a questão não é ser contra ou a favor. Temos que discutir a melhor forma de implementá-la, qual a situação desses alunos na universidade, que tipo de formação estão tendo? Os alunos cotistas respondem bem ao ensino e a presença deles ainda levanta outro questionamento: não se trata só de entrar, mas de permanecer na universidade. O ensino é de graça, mas o aluno tem que pagar o livro, a xerox, o ônibus, a alimentação. E tem estudantes que discriminam o cotista, não querem fazer trabalhos com ele, acham que ele não tem competência, e ele teve qualificação para estar aqui. Então nós temos muitos pontos para discutir e a discussão tem que ser sobre essas questões.
Samária – Você saiu de Serra Leoa ainda adolescente para estudar nos Estados Unidos, sendo um imigrante nesse país. Como você está vendo hoje o movimento de migração que está mexendo com mundo todo?
FMB – Nos anos 80 eu vi um imigrante africano nas ruas de Paris com uma camiseta que dizia “estamos aqui porque vocês estiveram lá”. Essa pessoa está dizendo: “se vocês estiveram lá, nós também temos o direito de vir para cá”. Mas, na verdade, esse é um intercâmbio muitas vezes injusto, porque se eu quiser voltar para os Estados Unidos, talvez eu volte, porque sou professor universitário. Agora, se eu for trabalhar na cozinha, talvez eles não me deixem entrar. É um problema de refugiados, mas também é econômico, porque aceitam as pessoas qualificadas. E o que são os países ricos sem o processo de colonização? Que riqueza Portugal tinha? Portugal é Portugal por causa de suas colônias, assim também como a Inglaterra, a França. Esses povos foram em busca de outros países numa situação também de imigração, mas que foi vista de outra maneira porque o capitalismo tinha que crescer, tinha que procurar mercados. Hoje nós temos países em situação econômica complicada e com sistemas políticos quebrados por causa das relações com o mundo ocidental, que agora está dizendo: “ah, não vamos aceitar vocês”.
Wellington – O Brasil adotou algumas políticas de estado e tentou estabelecer relações internacionais de aproximação com a África. Isso pode ser visto como uma reparação de uma dívida social histórica do Brasil em relação a países africanos devido ao grande número de escravizados que vieram para o nosso país?
FMB – Em primeiro lugar eu acho que são os afrodescendentes que têm que reconhecer essa dívida e isso tem que ser discutido com eles. O Estado brasileiro não pode dizer como vai reparar problemas sociais em outra sociedade. O discurso que se usa fala em ajudar esses países, mas quando você analisa friamente se pergunta: foram atendidos interesses dos países africanos ou interesses políticos brasileiros? Quem mais se beneficava eram os africanos ou políticos e empresários brasileiros? Nos últimos 50 anos os países africanos que receberam bilhões de dólares em assistência internacional não melhoraram as condições de vida da população, só pioraram. Então quem ajudou quem? São essas questões que nós precisamos provocar, porque você pega os livros ou a mídia e vê que a verdade está nas entrelinhas. As pessoas dizem “os africanos foram escravizados”, mas pouco falam dos escravizadores. Esse vocabulário precisa mudar. Aliás, eu não uso a palavra que começa com “n”, eu uso “afrodescendente”, porque antes de ser conhecido como “n” eu era Mendê. A África tem milhares de grupos étnicos e os europeus chegaram e chamaram todo mundo de “n”. Como no Brasil, chegaram e chamaram todo mundo de índio e era uma diversidade de tribos. E eles começaram a contar a nossa história quando nos deram um nome, porque nomear é tomar posse. Quando nós usamos a palavra “n” a nossa história só começa com a chegada do europeu, e a nossa história é de muito antes. Então você também não pode chegar querendo fazer reparação em um país se você ainda nem reconhece a história desse país. Em sua relação com o resto do mundo, a África tem pedido uma única coisa: paridade.
Não uso a palavra que começa com “n”, uso “afrodescendente”, porque antes de ser conhecido como “n” eu era Mendê. Quando usamos a palavra “n” nossa história começa com a chegada do europeu, e ela é de muito antes.
Francis Musa Boakari
Samária – Nós lhe pedimos desculpas pois até aqui temos usado a palavra “negro”…
FMB – É uma alternativa, né? Mas eu não uso.
Samária – Como é a vida em sua aldeia em Serra Leoa e como é ser príncipe lá?
FMB – Na minha aldeia, Garamá, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é parente e todo mundo cuida de todo mundo. Lá existe algo que se chama “Ubuntu”, em Suaíli (uma das línguas da União Africana). Ubuntu (palavra sem tradução direta) quer dizer solidariedade, responsabilidade conjunta, significa que uma pessoa só é uma pessoa por meio de outras pessoas, é uma humanidade para com os outros. Na minha aldeia existe essa mesma filosofia e se chama “ngoh yiilei”, da língua Mendê, significando também solidariedade e união entre os seres – uma cosmovisão planetária que advoga cuidar bem das irmãs e irmãos do mundo, dos ancestrais – das suas memórias – e do planeta. Eu acho que aqueles anos de infância talvez foram os mais felizes da minha vida, porque eu senti o que é liberdade. Eu nem sabia o que era, mas agora eu sei. Sim, eu seria príncipe, mas essa é uma realidade completamente diferente. Aqui eu sou professor Francis e Francis (fala sério). O contexto determina nossas identidades e se aqui eu disser que sou príncipe isso não se encaixa e nem faz sentido. Ser príncipe em minha aldeia tem um significado muito diferente do que costuma ter aqui, não tem os privilégios que se imagina. Uma das coisas que os europeus fizeram foi mudar a nossa maneira de pensar sobre autoridade. Para o meu povo ser autoridade é ser servente do povo. A pessoa é rei porque tem responsabilidades para com os outros, tem que ajudar – esse é o entendimento em minha aldeia. Cada aldeia tem uma pessoa responsável e essa responsabilidade significa que você ajuda os outros tanto quanto possível e que eles também te ajudam. É uma ajuda mútua. Então eu nunca me desligo de lá, entende? Eu não estou fisicamente, mas umbilicalmente continuo lá. Eu não fiquei no cargo, mas carrego a responsabilidade comigo, carrego o ngoh yiilei, e contribuo de todas as formas que posso, volto lá quase todos os anos. Hoje mesmo já conversei duas vezes com meus irmãos por telefone, para saber o que está acontecendo lá. Mas não sou príncipe, não sou rei, sou o professor Francis. Aqui sou Francis, professor Francis (repete). Só isso.
Wellington – Você tem vontade de voltar a morar lá?
FMB – Eu tinha e continuo tendo vontade de morar lá, mas como se desfazer das responsabilidades aqui para assumir outras lá? Quem sabe um dia eu vou para lá.
Wellington – Aqui você é um professor respeitado e admirado. Lá você também é amado?
FMB – Eu espero que sim (risos). A diferença é que aqui eu tenho que tentar, tenho que me esforçar o tempo todo. Lá eu só preciso ser Musa, não preciso me esforçar. Aqui eu tenho que estar ciente, consciente, o tempo todo. Lá as pessoas me aceitam do jeito que eu sou. “Ih, hoje ele tá zangado, não é dia bom para conversar com ele, não” (faz cara de zangado). Aqui eu não posso fazer isso, tá entendendo?
André – Isso se relaciona com a sensação de liberdade que você falou?
FMB – Sim, sim! Liberdade de criança é mais espiritual. Liberdade de velho é poder falar a verdade, dizer “não” para as pessoas, dizer “você não fez certo” – sem se preocupar, porque aquela pessoa não vai se zangar. Aqui as vezes eu quero dizer algo e a pessoa entende outra coisa completamente diferente e eu levo o semestre todo para tentar explicar. Lá não tem esse desafio.
Ana Carolina – Sabemos que o movimento afrodescendente é o grande responsável por todas as conquistas no que pertine a construção e realização de direitos da população afrobrasileira em nosso país. Em que medida as pessoas não afrobrasileiras podem se comprometer com a bandeira antirracista sem usurpar o protagonismo dessa luta?
FMB – (faz silêncio antes de começar a responder) Eu gostaria de aproveitar essa questão para pedir desculpas a Ana, eu já pedi uma vez e peço de novo. Ana fez mestrado conosco e ficou dois anos em nosso grupo de estudos e algumas pessoas não aceitavam bem a presença dela, achando que ela não fazia parte do grupo por não ser afrodescendente … Nós as vezes não compreendemos bem nossos problemas. Muitos afrodescendentes acham que só pessoas afrodescendentes devem se envolver nas discussões das desigualdades e discriminação racial. Gradativamente tem um grupo que está pensando: “nós precisamos de aliados”. Mas infelizmente, em nosso grupo, temos tido a experiência de que as pessoas não afrodescendentes precisam mostrar que realmente têm interesse e podem contribuir com a gente. Mas eu sei que talvez essas pessoas que expulsam os “não afrodescendentes” têm tido experiências negativas anteriores, e como conciliar as duas coisas? Talvez eu devesse ter agido diferente, defendido mais a Ana… (fala lamentando). Eu fiquei feliz porque vocês trouxeram essas perguntas dela. É uma coisa muito triste você afastar as pessoas que querem saber mais de você, contribuir com você (pausa).
Samária – Mais de uma vez em nossa conversa você se referiu a fazer orações e sabemos que você estudou religião. Quando você diz que “temos que rezar pelo Brasil”, isso tem um sentido literal?
FMB – Sim, é literal mesmo. A minha aldeia toda é muçulmana e os muçulmanos acreditam muito que as coisas acontecem se Deus quiser, e repetem “alá seja louvado” em tudo o que fazem. Eu sou cristão e nós, cristãos, de vez em quando esquecemos de rezar. Eu não fico indo à igreja, mas acredito que tem forças maiores que devem entrar em jogo e realmente acredito que as orações ajudam. Eu rezo sempre. E tenho rezado muito.
Entrevista publicada na Revestrés#38 – outubro-novembro de 2018.
☎ Novas assinaturas estão temporariamente suspensas, por conta da pandemia da Covid-19. Compre edições avulsas de Revestrés pelo site: www.revistarevestres.com.br
💰 Ajude Revestrés a continuar produzindo jornalismo independente:
catarse.me/apoierevestres










 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack