“Toda dor pode ser suportada se sobre ela for possível se contar uma história.” Hanna Arendt
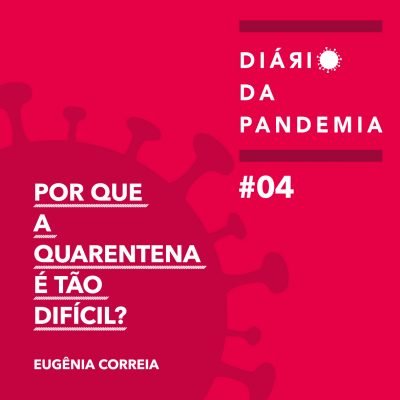
Cada um tome a palavra e conte algo, de modo a constituir uma história do que estamos vivendo, condição fundamental para a resiliência. Procurando meu jeito, aceito meu tom filosófico, fui professora durante 35 anos, é assim que reajo. Destaco dois pontos cruciais, que amplificam o mal-estar: a) o feminino; e b) o número.
Primeiro, o vírus não se reproduz fora de um hospedeiro, que no momento somos nós. É como um espermatozoide que precisa encontrar o óvulo. Somos nós os óvulos da Covid19, homens ou mulheres, unidos nessa posição feminina. A Covid nos feminiliza.
Para que a pandemia seja fator de construção de uma sociedade melhor, o modo como encaramos o feminino precisa ser transformado. Uma tomada, por exemplo, tem polos positivo e negativo, sem que se possa afirmar que um ou outro é passivo. Trata-se de uma diferença. É a diferença de potencial que engendra a energia. No feminino que nos cabe afirmar é assim também: uma força que afirma a diferença, não uma aceitação de passividade ou sombra. O Coronavírus nos mantém em casa, realizando tarefas de preparar comida, limpar, conversar sem compromisso, flanar pelo dia – como tanta gente acha que é a vida de uma mulher.
Nesses tempos, a tradição oriental parece voltar à moda. No meu círculo de amizades é mais comum as pessoas fazerem meditação do que rezarem. Entendo que meditar, compor música, fazer e ler poesia, são formas de orar, pois a pessoa se coloca na posição de querer sintonizar o outro em um registro diferente do pensamento consciente, racional.
A medicina chinesa me encanta por ser eficaz, me salva na hora do desespero, me põe em contato com uma ideia de deuses e deusas que acolhem e dão sentido à vida, e sinto o mesmo efeito do colo de Nossa Senhora da minha infância católica. Para mim, não se tratam de práticas antagônicas, mas de experiências distintas que chegam ao mesmo lugar: elevar a dor para um registro que aceita que não podemos controlar quase nada. Nem mesmo a gente. E, no entanto, esse desamparo pode ser suportável.
Sinto que o feminino se aproxima disso, dessa atitude de reconhecer a impotência, sem que isso leve a passividade.
Na tradição chinesa há um desenho resumindo as duas atitudes básicas frente à vida: yin e yang. O vírus é yang, ele vem de fora pra dentro. Isso nos transforma, produzindo sintomas que se movimentam de dentro para fora, procurando um equilíbrio.
Como prosseguir nesse embate? Rompendo o círculo! Justamente transformando a experiência em alguma coisa que não é circular, que abre para o infinito, a criação, que nos torna dotados da proeza de construir com nosso corpo uma potência maior do que o vírus.
Isso é difícil porque a tradição ocidental, originada nos gregos, nos traz um
“um” como círculo: como unidade ou como atributo de coisas iguais. É diferente quando se pensa no zero, no infinito, no múltiplo, que são construções da matemática moderna, desconhecidas pela tradição grega. A matemática moderna rompe a regulação da matemática grega e pensa com categorias que não se fecham em um círculo, que se abrem para o
impensável, o que não existe, o que não se conta. E o que esse tipo de reflexão tem a ver com a pandemia?
A diferença – no sentido do que aproxima, não o equilíbrio, mas o único, o múltiplo – é o modo de se chegar ao sujeito, à pessoa que tem consciência de sua existência no mundo. É essa possibilidade de se dar conta de si que desaparece quando perdemos os pontos de apoio, quando nos diluímos em operações que negam a diferença. Considerar a diferença, nesse sentido positivo, implica em uma reviravolta na tradição que pretende desfazer tudo em uma suposta igualdade.
A diferença que ressalto aqui se refere ao exercício de nos recortar do outro de uma maneira sustentável, subjetivamente estruturante. É preciso que cada um suporte a diferença em relação ao outro, e ao outro que habita em nós também. Não “aguentando” o diferente, mas dando suporte, alimentando e construindo as singularidades. E singularidade é diferente de individualismo. É mesmo o oposto, pois o singular exige o reconhecimento de que somos plurais, carregamos muitos seres ao mesmo tempo, dentro de nós.
Nessa pandemia, a matemática a que estamos tendo acesso vem em forma de curvas exponenciais, mostrando mortes aumentando ou diminuindo. Esse modo de usar o número não aceita a diferença. Somos todos diluídos como “uns” iguais aos outros, o que nos parece insuportável. Mas as grandezas matemática não são necessariamente um espelho do mundo. A estatística é uma ferramenta a serviço de quem deseja demonstrar uma coisa.
Para convencer, além de números, é preciso contar com palavras, que a pessoa acompanhe com suas referências. Não basta apresentar os dados, é preciso incluir a pessoa no contexto, mostrar onde ela se encontra no processo. A gente precisa construir um conceito de número que dê lugar à pessoa.
E precisa não recear a filosofia, não rir do papo-cabeça, como se filosofar perdesse sua essência ao discutir assuntos “sérios”. Para nos consolar da incerteza espantosa que temos pela frente, temos o simbólico, a ciência, a matemática – não aquela dos números inteiros, mas a que pode acolher a pessoa, o sujeito, o infinito, o múltiplo, o singular.
Eugênia Correia é doutora em Psicologia do Desenvolvimento, compositora e artista visual. É teresinense e mora em João Pessoa.
*Essa história do número está em Alain Badiou, filósofo que propõe um tipo de número – “número surreal”- como forma fecunda de se pensar o cálculo nas humanidades.
A cada terça e sexta um novo texto nessa nova seção. Acompanhe.


 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack