Por Francisco de Assis Sousa
 A fumaça sinaliza a lavareda que consume os espinhos do mandacaru. Os homens arrastam os galhos sapecados para o campo limpo, a fim de separar do miolo os tecidos remanescentes desse cacto que é a última fronteira entre a sobrevivência e a morte do rebanho até a chuva voltar. O ronco da forrageira tritura a casca negra resultante da ação do fogo para, em seguida, ser lançada na cocheira para os animais, que já aguardam famintos. Registro do flagelo narrado por Rachel de Queiroz, em O quinze, e por Fontes Ibiapina, em Vida gemida em Sambambaia, repete-se em 2025.
A fumaça sinaliza a lavareda que consume os espinhos do mandacaru. Os homens arrastam os galhos sapecados para o campo limpo, a fim de separar do miolo os tecidos remanescentes desse cacto que é a última fronteira entre a sobrevivência e a morte do rebanho até a chuva voltar. O ronco da forrageira tritura a casca negra resultante da ação do fogo para, em seguida, ser lançada na cocheira para os animais, que já aguardam famintos. Registro do flagelo narrado por Rachel de Queiroz, em O quinze, e por Fontes Ibiapina, em Vida gemida em Sambambaia, repete-se em 2025.
A estiagem esgotou toda a forragem do cercado. A água também já se foi. Só resta o chão rachado e a marca que registra a passagem dos últimos animais. Para matar a sede no final da tarde, o gado segue trotando para o bebedouro de cimento construído ao lado do poço tubular, onde mina das profundezas da terra o líquido vital que, no entanto, já desapareceu dos reservatórios por conta da ausência da chuva.
Ao uso do mandacaru queimado, apesar de possuir um alto valor nutricional, os criadores só recorrem quando todas as possibilidades de alimentação têm se esgotado. A queima do mandacaru simboliza a gravidade do problema.
A seca, além de consumir a carne do bovino, do ovino e do caprino, que perdem peso e chegam a morrer de fome e de sede, faz desaparecer também a minúscula reserva financeira dos criadores. O pouco dinheiro disponível é empregado na aquisição de rações, como: milho, ralão, risido e cascalho de mandioca. Ao uso do mandacaru, apesar de possuir um alto valor nutricional — proteína bruta, extrato etéreo, extrativos não nitrogenados, fibra bruta, resíduo mineral, fósforo em P2O5 e Cálcio em CaO —, os criadores só recorrem quando todas as possibilidades de alimentação têm se esgotado.
A queima do mandacaru simboliza a gravidade do problema. “Na seca de tal ano, os animais foram salvos comendo mandacaru sapecado”, afirma um idoso. Um outro transmite a realidade vivida pelos antepassados: “Meu avô sobreviveu à seca de 32 comendo raiz de favela e farinha de mucunã vermelha”. Das sementes da mucunã, os flagelados obtinham uma fécula que era lavada várias vezes — ou por várias águas, na linguagem cabocla — para eliminar a toxidez. Em seguida, produzia-se uma massa ou farinha, que era consumida pelas famílias para amenizar a grande fome.

No período da seca também cresce a subtração de caprinos de dentro das propriedades. “Nesta semana roubaram mais de cinco cabeças de criação do meu rebanho! Desse jeito vai acabar. As que não morrem de fome, os ladrões vêm buscar”, denuncia, de forma impotente, um criador. Esse fato acena para o personagem Alonso, de Fontes Ibiapina, no romance “Vida gemida em Sambambaia”, que teve a ousadia de roubar um bode do patrão a fim de atender a fome de sua família e foi severamente castigado; atitude que o diferencia dos ladrões atuais, que roubam para comercializar e, consequentemente, ganhar dinheiro.
A estiagem é uma condição climática natural no semiárido nordestino. Porém, da mesma forma que há os prejudicados, há aqueles que se beneficiam enchendo a capanga de dinheiro. Entre eles, estão os vendedores de água que saem de casa em casa comercializando galões de 18 litros; os donos de carros-pipas, que acumulam altas cifras graças aos programas do Governo Federal; e, principalmente, a classe política, que se aproveita para arrancar verbas, alegando que a população humana e a animal padecem de socorro. É a famosa “indústria da seca”, que há séculos esvazia o bucho dos pequenos e enche a barriga dos grandes.
***
Francisco de Assis Sousa é professor e cronista. Atual presidente da Academia de Letras da Região de Picos – ALERP

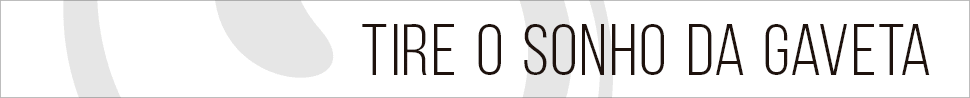
 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack