Ela não se conteve em se tornar uma das poucas mulheres a estudar a relação entre feminismo e filosofia e decidiu levar o debate para o restante do Brasil com a proposta de um partido político, a #partidA. Com as ideias que defende, a filósofa feminista também redefine o significado de ser extraterrestre, como ela mesma se caracteriza.
Em entrevista à Revestrés, Márcia Tiburi falou sobre a “felicidade de plástico” que vivemos e não se furtou à reflexão acerca da educação, das redes sociais e do conceito de “fascistização” da sociedade atual.

Na prática, como se aproximam o feminismo e a filosofia?
Márcia Tiburi – O meu feminismo é a consequência da minha investigação filosófica. Inclusive, eu nem me afirmei militante do feminismo muito cedo. Eu descobri o feminismo estudando a filosofia mais tradicional e escrita pelos homens, a filosofia que tem uma epistemologia patriarcal. Estudando essa filosofia é que eu acabei desconfiando do que estava escrito, que acabei encontrando no primeiro momento uma investigação necessária e bem urgente sobre a forma como as mulheres eram representadas nas teorias filosóficas, ou o que os homens diziam das mulheres. Eu vi um nexo imediato entre o que os homens diziam das mulheres na filosofia e o modo como elas eram representadas na literatura, na história das artes visuais, da pintura, sobretudo. Quando eu me disse feminista foi na época em que eu fazia televisão. Porque enquanto eu era só uma professora, dando aula de filosofia, não tinha percebido. Pra mim eram questões teóricas. Eu não tinha tido o insight prático em relação ao feminismo. Até porque sempre vivi meio que em uma bolha. Estudando filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, dando aula de filosofia, só com homens praticamente a vida inteira. Quase nunca havia uma mulher filósofa no meio. E eu sempre fui tratada como tal, como homem. Nunca houve nada que pudesse sinalizar para o fato da violência, do aviltamento, da humilhação por ser mulher. Ao contrário, no meu caso específico, no âmbito da nossa cultura – muito entre aspas – só me dei bem por ser mulher. E eu, por sorte e pelas circunstâncias, não sofri grandes violências. Mas quero deixar bem claro: não é porque não tenha sofrido. É porque eu não via. Talvez porque eu vivesse em um mundo muito à parte, talvez por isso tenha me tornado filósofa. Fui realmente muito extraterrestre, toda a minha vida. Provavelmente fui uma das primeiras pessoas a começar a discutir a questão feminista na filosofia brasileira. Acabei percebendo ali, na televisão, em demandas muito concretas de debates, que havia questões muito complexas que eram postas de um ponto de vista conservador, preconceituoso. Ali comecei a ver como era pesado ser mulher.
Esse contexto de redes sociais está expondo mais a situação em que a gente vive hoje? Está mais fácil perceber o que antes você precisou de algum tempo?
MT – Os meios de produção da linguagem se modificaram com a internet. O que fazem as redes? Elas permitem novos trânsitos da linguagem e ao mesmo tempo resguardam o locutor. Aquele que recebe a mensagem desabonatória vai ser maltratado, vai sofrer, mas aquele que emite a mensagem violenta, esse não vai receber nenhuma punição. A internet é terra de ninguém e ali quem pode mais, chora menos. A gente vive na internet um empobrecimento muito radical da linguagem, que é o empobrecimento também das ideias. A onda de fascistização, do autoritarismo, do conservadorismo, todo esse programa de ódio ao outro que acompanha o poder na sua história, encontrou uma válvula de escape muito grande na internet. Provavelmente alguém já usou a expressão: o inconsciente a céu aberto. A internet é muito isso. Um desejo profundo de maltratar, de humilhar por meio da linguagem. Se a gente olhar de fora, é casa de louco.
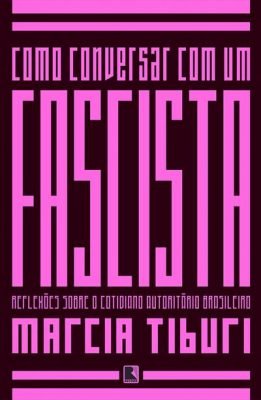
O que está havendo de errado no ensino da filosofia nas escolas? Essa onda de ódio, de preconceitos, principalmente nesse pessoal mais jovem?
MT– Eu não sei se é sobretudo entre o pessoal mais jovem. Valeria hoje uma pesquisa para entender a relação entre faixas etárias e ódio ao outro. Mas concordo que é profundo nessa geração bem jovem. A questão da escola no Brasil, da educação, é uma coisa séria porque não existe um projeto para esse país. O que existe, se a gente pensa com um pouco de crítica, é um projeto de destruição da educação, que vem se desenvolvendo nas últimas quatro, cinco décadas, que coincide com o advento tenebroso da ditadura militar. É preciso não apenas destruir a educação no sentido de que não haverá infraestrutura que a sustente, mas também é preciso destruí-la no âmbito da superestrutura. Me refiro a fazer com que a própria cultura desvalorize a educação. A gente vai assistindo a violência que se faz, às vezes mais simbólica, às vezes mais concreta, mas a relação que o Estado tem com educação é uma relação de violência. E a juventude está abandonada. E esse mesmo Estado que nega a escola à juventude da periferia, negra, vai providenciar por muitas vias a morte dessas crianças.Dizer que o governo atual brasileiro é genocida é uma coisa óbvia. Isso não começou aqui. Nesse momento, infelizmente, as oposições coincidem na mesma violência. Seja a direita, seja a esquerda, tudo conflui para a mesma forma de extermínio. Essa condição moribunda da literatura, da educação, da política… E ao mesmo tempo um avanço das tecnologias. Mas é preciso manter o otimismo prático. O professor é um otimista. Nós precisamos resistir. Hoje, literatura, livro, filosofia, educação, isso é resistência. Nesses momentos muito pesados, muito sombrios, é a nossa tarefa mais elementar. Do contrário não haverá nenhuma chance.
Você está propondo a criação de um partido feminista, a #partidA. Como seria a atuação da sigla e que propostas ela traz para a política?
MT – Eu comecei com esse movimento sugerindo um partido no seu sentido mais formal. E nas discussões com as feministas, Brasil afora, nós resolvemos deixar a questão do registro em suspenso e nos transformamos em um movimento que funciona como um partido. Nessa época de fascistização do governo brasileiro, as feministas têm perdido muito lugar. Muitas conquistas que foram possíveis em função de lutas feministas caíram por terra no Brasil nos últimos dias. Então a gente pensa em um movimento de ocupação do governo, sobretudo no executivo e no legislativo, no primeiro momento. Tem eleição em 2016 e a gente quer experimentar essa eleição. Nós vamos apoiar candidatas.
No movimento contra a presidenta Dilma, além desse viés ideológico e político-partidário, é possível considerar que haja questão de gênero?
MT – Acho que tem muito a questão do gênero. Desde a primeira candidatura da Dilma a gente já percebia isso. Essa mensuração de quão mulher ela é, se está bem vestida ou não está bem vestida, enfim… Isso não é uma coisa que é só do Brasil. Isso tem a ver com uma cultura patriarcal, da dominação masculina que precisa rebaixar a mulher do poder a uma mulher, por exemplo, humilhada. Acho que ela paga um preço muito alto por ser a presidenta de um país machista, racista, classista como é o Brasil, um país cheio de preconceitos. Ao mesmo tempo é lastimável, porque Dilma tem feito em alguns aspectos um governo interessante e, em muitos outros aspectos, um péssimo governo. Agora, gostando ou não, esse é o nosso governo. E se ele não cometeu crimes, não há sentido no ódio que se dirige a ele. E esse ódio delirante tem a ver com a paranoia conservadora e autoritária. E a violência é pesadíssima, não apenas do Estado para com o povo, mas da sociedade como um todo. Um para com o outro. Nós nos tornamos anti-políticos. E a avalanche de asneiras, de estupidez, de maldade, de grosseria, é fora do comum. Desse nível de linguagem para o assassinato, para a violência física, é um pequeno salto.
Esse passo até já foi dado através dos casos de linchamentos.
MT – Sim. A gente se autoriza na linguagem e se realiza no linchamento. Esse meu livro nome “Como conversar com um fascista” tem inclusive um capítulo sobre isso. Há um cálculo das vidas que merecem viver e as que não merecem. O Estado lavou as mãos em relação aos direitos fundamentais e as pessoas começam a viver a sociedade, como terra de ninguém. É uma pura vontade de fazer violência. Esse ódio é fomentado porque o poder se vale das pessoas para que elas destruam umas às outras. Quem vai sobrar? Os consumidores. Pode matar todo mundo, não matando quem vai ao shopping… É esse o jogo! É isso que o capitalismo quer manter vivo. O resto é vida que não merece viver.
Nós vivemos em uma sociedade que incute na gente esse desejo, esse anseio de sermos felizes. O que é realmente a felicidade?
MT – O problema é que a felicidade, como tudo, foi reduzida a mercadoria. E na nossa cultura contemporânea é isso que se vive: a felicidade publicitária. Ou seja, você a encontra na propaganda, você a encontra na televisão, você a encontra nas representações cinematográficas. O campo do entretenimento, da indústria cultural, mexe com isso todo tempo, com essa felicidade que dá pra chamar de felicidade de plástico, que é mercadoria. É a felicidade da selfie. Mas eu não jogaria fora a utopia da felicidade porque ela tem sido utilizada para o mal. Do contrário, o que estaríamos fazendo nesse mundo? Eu até tenho feito a seguinte reflexão: a gente vive na era da depressão. Eu suspeito que nessa depressão – além de ser fomentada pela indústria farmacêutica – o lastro profundo é político. Quem pode estar feliz ou se sentindo bem em uma cultura como essa? Quem não está deprimido é porque está ocupado com muitas coisas criativas, inventivas.
(Entrevista publicada na Revestrés#22)


 Protected by Patchstack
Protected by Patchstack